
As notícias sucedem-se. Mais casos. Mais mortes. Mais países envolvidos. Um recém-nascido infetado pela mãe. Casos suspeitos em todas as latitudes. A cadência das atualizações intensificou-se desde que, a 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou o novo surto de coronavírus, com epicentro na cidade chinesa de Wuhan, como emergência de saúde pública de âmbito internacional.
Entretanto, há já muitos milhares de casos confirmados. Centenas de mortes. Um vasto leque de países afetados. Números que aumentam a cada dia. A cada hora. Essa é uma das certezas que temos. Há outras. A de que não é a primeira vez que uma epidemia destas sacode o globo. A de que não será a última. E a de que estamos mais preparados para elas. Até porque o mundo atual se move numa órbita de circunstâncias que propiciam a propagação de epidemias como esta.
Percebê-las implica, antes de mais, defini-las. Recorrer à etimologia pode ser um princípio. “Endémico quer dizer que vive na nossa casa. Epidémico quer dizer que visita a nossa casa”, começa por distinguir o epidemiologista Henrique Barros. Na prática, falamos de uma endemia se estiver em causa uma doença confinada a uma determinada região. Já o termo epidemia é usado quando uma circunstância aumenta inequivocamente a sua influência, espalhando-se por outras localidades e países. E ainda há a noção de “surto epidémico”.
“Uma epidemia em que uma circunstância subitamente aumenta inequivocamente a sua influência, atinge um pico e depois desaparece.” Nesta espécie de escala, podemos ainda chegar à pandemia – no fundo, quando uma epidemia surge em vários pontos do globo. “O atual coronavírus [nCoV-2019] começou com um surto de pneumonia e de repente alastrou-se a uma grande área geográfica. Neste momento, temos uma epidemia na China, que está a assumir uma dimensão pandémica. Ainda não pode ser considerada uma pandemia porque os casos que têm aparecido fora da China são essencialmente importados de lá.”
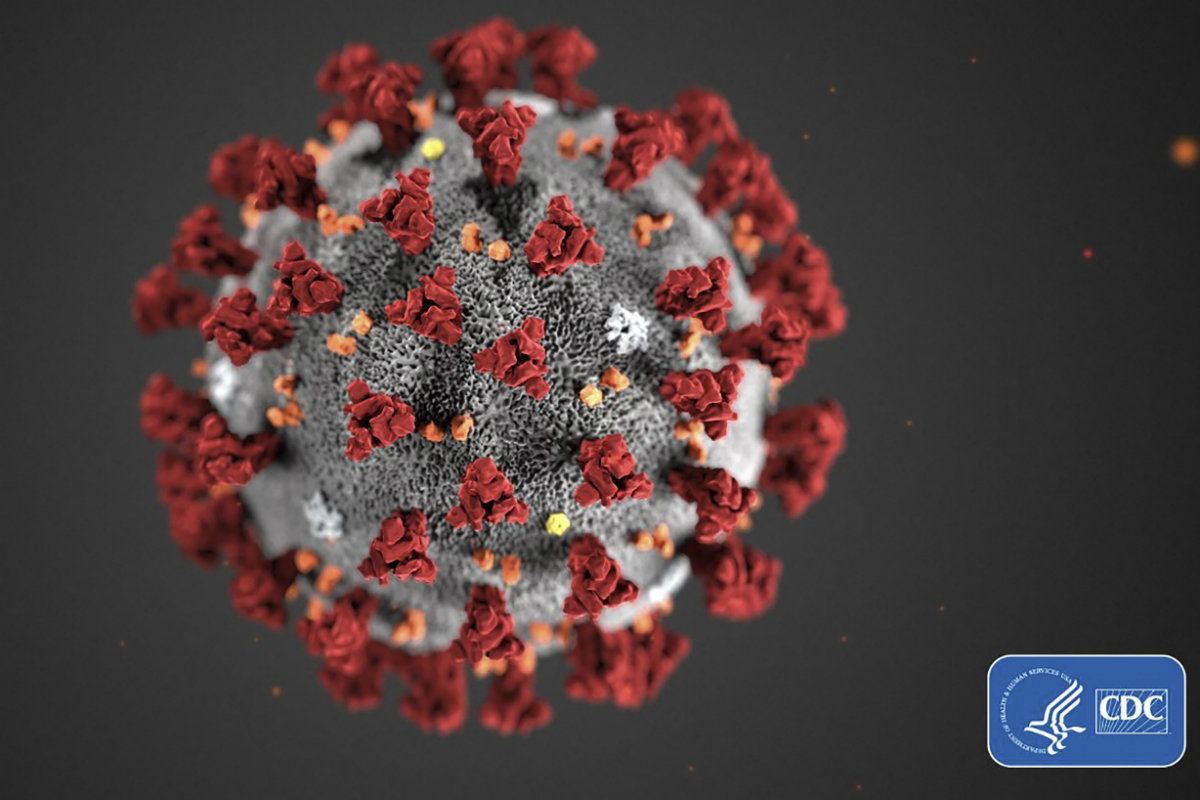
Mas o conceito de epidemia está longe de ser uma novidade neste século. E tem estado quase sempre associado a doenças infeciosas emergentes. “Uma infeção que não era conhecida ou que assumiu uma dimensão quantitativa ou geograficamente alargada ou inesperada”, esclarece Henrique Barros. Em 2003, a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), um outro tipo de coronavírus, afetou mais de oito mil pessoas, provocando 754 mortes. Em 2005, foi a vez de a gripe das aves (H5N1) atacar.
No mesmo ano, a febre hemorrágica de Marburgo, que surgiu inicialmente na Alemanha, na década de 1980, fez estragos em Angola, com 252 casos, quase todos (227) mortíferos. Mais tarde, em 2009, foi a vez de a gripe suína (H1N1) abalar o globo. Com cerca de um milhão de casos registados globalmente, e 284 mil mortes, o vírus foi mesmo decretado, pela Organização Mundial de Saúde, como pandemia.
Desde então, já nos deparámos, em 2012, com a Síndrome Respiratória do Médio Oriente (MERS), outro tipo de coronavírus – 2494 casos, 858 mortes -, com um surto de poliomielite na Ásia Central, Médio Oriente e África Central, em 2014, ou com o vírus do zika, que atacou em força no Brasil a partir de 2015 e se propagou a outros países. Estima-se que 1,5 milhões de pessoas tenham sido infetadas.
Sem esquecer o ébola que, primeiro na África Ocidental (2014) e mais recentemente (2019) na República Democrática do Congo, se traduziu em milhares de mortes. Em ambos os casos, a Organização Mundial de Saúde declarou a emergência de saúde pública de âmbito internacional. Antes, já o tinha feito com a gripe H1N1. Com a poliomielite e o zika também. Agora, esta nova versão do coronavírus volta a motivar o alerta da OMS.
Não que os coronavírus (assim designados por terem uma aparência semelhante à de uma coroa) sejam uma novidade. Na verdade, estima-se que circulem entre os animais desde a década de 1960. A questão é que, com o tempo, foram “aprendendo” a saltar a barreira das espécies, contaminando também humanos. E já por duas vezes – SARS, em 2003, e MERS, em 2012 – provocaram contágios em larga escala. Os sintomas vão desde um resfriado comum a problemas respiratórios graves, que podem levar à morte. Já as especificidades vão evoluindo.
“Do que se sabe até agora, embora seja sempre difícil dizer, porque mesmo durante uma epidemia o vírus vai mudando, é que este coronavírus parece ter taxa de mortalidade significativamente menor do que os antecessores. Mas também parece ser mais contagioso”, aponta António Sarmento, diretor do Serviço de Infeciosas do Centro Hospitalar de São João, no Porto, um dos hospitais de referência sinalizados para “atacar” a epidemia.
A China, a mobilidade, as alterações climáticas
Há vários fatores que justificam este contágio em larga escala. Desde logo, o facto de os vírus irem mudando com o tempo, para contornar os anticorpos que os humanos vão desenvolvendo contra eles. É uma espécie de jogo do gato e do rato. Mas há outras circunstâncias. O facto de se tratar de um vírus respiratório que se propaga também por gotícula, por exemplo. “Basta uma partícula de um espirro de uma pessoa que está a menos de um metro de distância atingir os olhos ou a boca, por exemplo, que a pessoa poderá ser contagiada”, lembra António Sarmento.
Há ainda a ter em conta o facto de a China ser uma superpotência económica, com transações com o mundo inteiro. “Se algo contagioso aparece na China, a probabilidade de se propagar ao resto do mundo é grande”, admite António Sarmento. Já em 2008 um artigo sobre “emergência e controlo de doenças infeciosas na China”, publicado na revista “The Lancet”, uma das mais conceituadas publicações sobre pesquisa médica no mundo, considerava o país um terreno fértil para a propagação desse tipo de doenças.
Desde logo pelo tamanho da população (perto de 1,5 mil milhões de habitantes). Mas também pelo “histórico de fome e consumo de qualquer tipo de animal” e pela “criação de animais sempre muito perto ou dentro de casa”, destacava nesse artigo o investigador Claudio Maierovitch, da Fundação Osvaldo Cruz (Brasília), que se tem dedicado ao estudo dessas questões. O gosto dos chineses por alimentação exótica e venda de animais vivos eram outros fatores destacados no artigo.
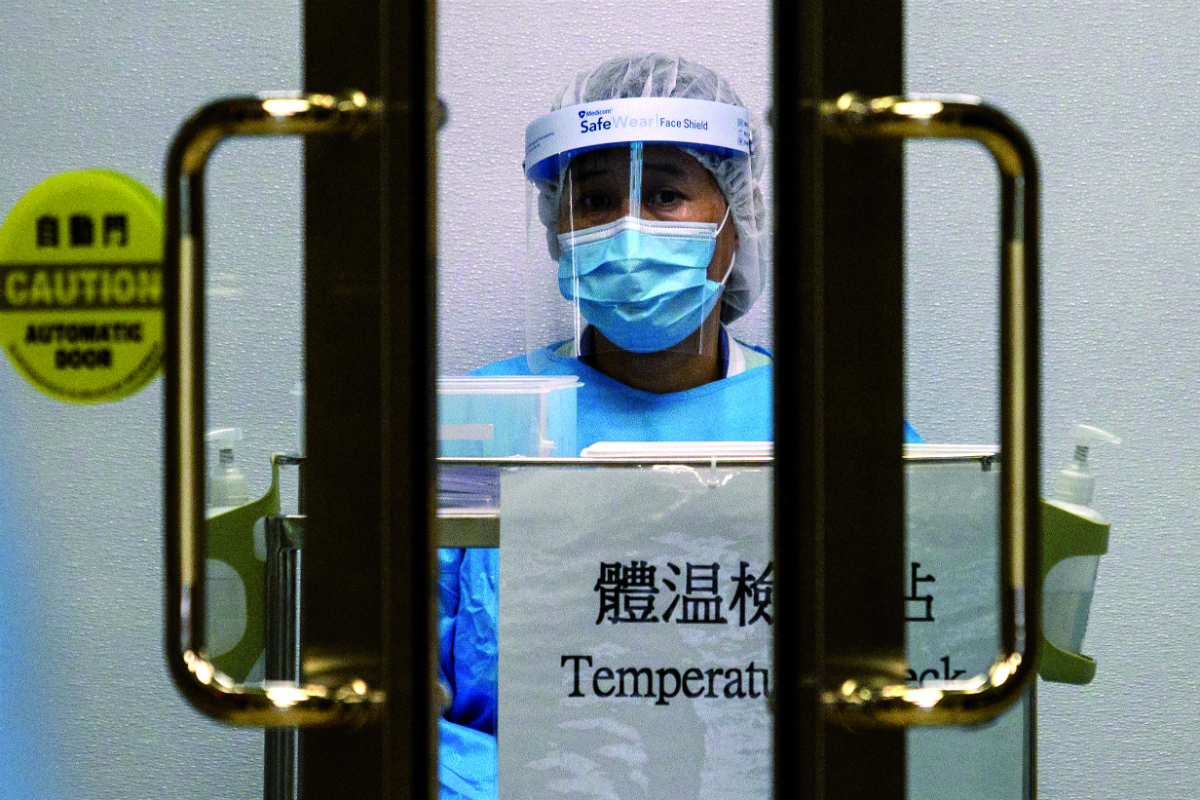
Só que assumir que os países asiáticos são a origem de todas as epidemias é um erro crasso. Até porque a sociedade contemporânea no seu todo se desenha hoje numa encruzilhada de circunstâncias que funcionam como chamariz para a propagação deste tipo de vírus. Henrique Barros enumera algumas. Desde logo, a mobilidade internacional. As alterações climáticas também pesam. E a subida das águas do mar. A acidificação das águas. A destruição da barreira de coral. A modificação das migrações das aves e dos insetos.
“Este conjunto de fatores leva a que os hospedeiros se adaptem a novos ecossistemas.” Um agente infecioso que esteja adaptado a viver no meio dos morcegos, por exemplo, pode ver-se “forçado”, face à mudança do espaço e do clima, a aproximar-se dos humanos. Henrique Barros recorre a uma metáfora para explicar o processo. “Imaginemos que a espécie humana é uma fechadura. E o agente [infecioso] é uma chave. À partida, a chave não entra na fechadura. Mas se nós formos mudando e o agente também, pode haver um momento em que consiga entrar.”
Não que este cocktail deva servir de rastilho para o pânico. Até porque também há o reverso da medalha. “Vivemos hoje num mundo incomensuravelmente melhor do que viveram os nossos avós: sabemos mais, temos mais maneiras de agir e temos maior capacidade de antecipar as coisas”, lembra Henrique Barros. O histórico de epidemias tem trazido ensinamentos importantes. A OMS tem hoje um “know-how” profundo sobre os protocolos e os procedimentos a adotar quando casos destes acontecem. A experiência estende-se ao trabalho feito internamente, por cada país, com planos de contingência bem definidos. Nem sempre foi assim.
Graça Freitas, atual diretora-geral da Saúde, é uma boa testemunha disso mesmo. “Fui para a DGS [Direção-Geral da Saúde] em 1996 e nessa altura não se falava em nada disto. Não se antecipava. Em 1997, houve uma crise brutal, por causa da gripe das galinhas, uma gripe muito grave que apareceu em Hong-Kong. Na altura, foram exterminados milhões de galinhas. Foi aí que pela primeira vez pensámos que tínhamos de ter um plano. Tentámos ir buscar um a outro país, mas não havia praticamente nada. Encontrámos um pequeno plano na Bélgica, que foi a nossa grande inspiração para começar a pensar o assunto pela primeira vez.” A aprendizagem teve outros momentos importantes.
A crise de SARS, em 2003, por exemplo, de onde sobressaiu a importância do conceito de contenção (de uma epidemia). Depois, entre 2004 e 2005, a DGS reuniu uma “task-force” que ficou encarregue de gizar um grande plano de contingência para atacar um possível cenário de uma gripe pandémica. O primeiro plano seria apresentado em 2006. A pandemia de H1N1, em 2009, permitiu passar da teoria à prática.
“Aí, mais do que a contenção, passámos pela fase de mitigação, o que nos permitiu testar toda a infraestrutura de saúde.” Pelo meio (e depois disso), houve outras crises. Graça Freitas lembra a febre hemorrágica de Marburgo, em Angola. Mas também o ébola, o dengue, o zika. “Crises que nos têm mostrado o quão frágeis somos, mas também o quão fortes somos. Temos hoje muitos instrumentos para mitigar os efeitos de uma epidemia.”
O fim de uma epidemia
Mas, afinal, como acaba uma epidemia? Henrique Barros sintetiza assim. “Ou acaba ela – ou seja, o agente [infecioso] deixa de encontrar quem atacar -, ou acabamos nós, ou cria-se um equilíbrio em que o agente e nós encontramos uma forma de coexistir. Neste caso, o agente perde agressividade e nós ganhamos resistência, pelo que o agente acaba por causar pouca ou nenhuma mossa.” O epidemiologista avança ainda com outra possibilidade. “Podem também mudar as circunstâncias ambientais. E o agente deixar de ter condições para se desenvolver. A SARS desapareceu quando as condições ambientais deixaram de ser favoráveis.”
Outro possível travão à disseminação de uma epidemia é a comercialização de uma vacina. Neste momento, vários cientistas da China, Estados Unidos, Austrália e Europa trabalham em contrarrelógio para encontrar um fármaco que combata o novo coronavírus. No entanto, este nunca será um processo vertiginoso. António Roldão, investigador do iBET – Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, e responsável por grandes projetos na área de vacinas para a gripe, a malária ou a doença de Chagas, explica, sucintamente, o processo que decorre desde a identificação de um vírus até à comercialização de uma vacina.
“Primeiro, quando se identifica um novo vírus, é preciso perceber qual é a sequência genética e assim classificar o vírus para perceber a que família pertence. Depois, os vacinologistas desenvolvem vários candidatos a vacinas usando diferentes tecnologias, para perceber qual a que desencadeia maior proteção contra o próprio vírus.” Seguem-se os testes em animais para avaliar eficácia e toxicidade e depois, se os resultados forem suficientemente animadores, os testes em humanos.
Só após todos estes passos se poderá avançar para a comercialização. Estaremos, portanto, a falar de quanto tempo?
António Roldão garante que é impossível avançar com números redondos. Explica antes que cada uma das fases clínicas pode demorar até cinco anos. Mas que, no caso de grandes epidemias, os ensaios clínicos podem entrar em modo “fast track”, o que acelera o processo. No entanto, arrisca dizer que “dificilmente” a vacina poderá ser comercializada em menos de um ano.
Mesmo que a ciência esteja em permanente evolução. Prova disso é que o atual coronavírus levou apenas uns dias para ser identificado. No caso da SARS, por exemplo, o processo estendeu-se durante semanas. Os próprios testes de diagnóstico são hoje muito mais rápidos. Em Portugal, o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) é a entidade responsável pela realização dos mesmos, sendo possível obter resultados em cinco a seis horas.
Tudo graças a uma técnica laboratorial muito comum no âmbito da biologia molecular: amplificação dos ácidos nucleicos, pela reação de polimerase em cadeira em tempo real. “Consiste numa amplificação (multiplicação) de uma cópia de ADN, que se desnatura completamente a 95º C, seguida de uma baixa de temperatura para fixação dos ‘primers’, os iniciadores específicos da cópia que se quer amplificar”, explica Jorge Machado, coordenador do Departamento de Infeciosas do Instituto Ricardo Jorge. Simplificando, falamos de uma técnica que funciona como uma espécie de lupa e permite encontrar zonas específicas do ADN do vírus (caso estejamos perante o mesmo vírus).
No entanto, no combate às epidemias, continua a haver dificuldades por ultrapassar. Arriscado Nunes, sociólogo que trabalha na área da saúde e que tem um vasto trabalho feito na área da organização da resposta a eventos considerados de emergência, nomeadamente com a Fundação Osvaldo Cruz, identifica algumas. Desde logo o facto de fenómenos como este resultarem de infeções por vírus, o que impede a utilização de antibióticos. Entre outros. “Normalmente, o que acontece é que estes processos começam por ser zoonoses, doenças infeciosas que ocorrem primeiramente em animais. Há aqui um problema logo à partida. Muitas vezes a identificação dos primeiros casos ocorre apenas depois de as pessoas já estarem infetadas e do período de incubação.”

O investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra defende, por isso, que essas questões devem ser tratadas numa lógica interdisciplinar, “como problemas de saúde humana, saúde animal e saúde de ecossistemas”. Enfatiza ainda a necessidade de “ampliar a visão sobre a economia política da ocupação dos solos, da exploração agrícola e da criação de animais”. Até porque as grandes epidemias tendem a ocorrer em lugares onde há uma “extensão da ocupação humana” para territórios anteriormente reservados à vida selvagem.
Ora, face a tudo isto, o que podemos esperar que o futuro traga? Mais epidemias? Seguramente, garante o epidemiologista Henrique Barros. “No início da década de 1980, viajavam à volta de 200 milhões de pessoas por ano. Hoje em dia são 1,5 mil milhões. Uma em cada quatro pessoas viaja, em média, pelo menos uma vez por ano. Os contactos interpessoais são cada vez maiores. Além do impacto ecológico que isto traz. Se se mantiverem as circunstâncias do mundo em que vivemos, o que podemos esperar é que cada vez mais epidemias.”
Nada que deva servir de alarme. “Importante é estarmos preparados para enfrentar essas situações, termos planos de contingência feitos aos vários níveis, para não ficarmos reféns destas epidemias. Não podemos olhar para isto como uma fatalidade ou meter a cabeça na areia. Durante séculos, quando acontecia um acidente, olhávamos para isso como um azar. Hoje sabemos que isso não é verdade. Os acidentes têm causas e podem ser prevenidos. Também nas epidemias há circunstâncias que podem ser prevenidas. Temos é de estar preparados.”
Em relação ao atual coronavírus, vai dizendo que, apesar de o número de casos continuar a crescer, a infeção parece estar relativamente contida. “Olhando para a curva epidémica, imagina-se que se a epidemia não saltar para fora da China de forma significativa, não adquira um impacto muito relevante.” Mas garante que é cedo para traçar cenários definitivos. E deixa um conselho: “Temos de esperar o melhor, mas estar preparados para o pior. Com razoável tranquilidade”.
Se está a pensar viajar, especialmente se for para o continente asiático, saiba quais são as preocupações mais comuns e leia os conselhos de Sandra Xará, coordenadora do centro de vacinação internacional do Centro Hospitalar do Porto.


















