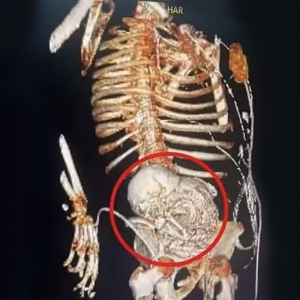Ela chegou ao palco do Coliseu de Lisboa com um vestido de folhos e uns ténis, banais, Keds brancos. Ao fundo, no palco, havia um céu, azul, e nuvens brancas onde se desenhava o seu nome. Letras fofas, como nos desenhos animados – estilo Simpsons. Gisela João, diziam as nuvens. Havia também uma árvore, no palco, como se uma mão infantil tivesse desenhado o cenário. O concerto começou com Gisela calada, mas a falar. Uma voz off, a sua própria voz, lia um diário: «Diário de Bordo 1», dizia. E começava por nos chamar, a todos os que estávamos a ver o espetáculo, meus amores.
Foi este o cenário, o tom e o ambiente do espetáculo de Gisela João no último fim de semana no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Gisela João cantou, cantou, cantou, sorriu, chorou, falou com o público, sorriu, mostrou-se contente, tão contente que não conseguia esconder isso e dava gritinhos e fez encores, tantos encores quantos lhe apeteceu, sem ter em conta as regras de palco ou a etiqueta habitual destas coisas.
Mas não a trago aqui porque este foi um excelente concerto, não. É verdade que ela tem uma voz poderosa e o fado nela. Mas tenho visto e ouvido outros concertos memoráveis: de Camané, Ana Moura, Kátia Guerreiro, Ricardo Ribeiro, Rodrigo Costa Félix e Marta Pereira da Costa, Carminho, Carlos do Carmo. Todos no seu estilo, todos com o seu fado. Mas Gisela João comoveu-me. E de forma diferente.
Conheci-a num concerto particular – na inauguração de uma exposição de um amigo sobre fado. Gisela saltou do público e foi cantar porque tinha de cantar. Era bonita, loura, e havia qualquer coisa nela que destoava da solenidade que tínhamos acabado de ouvir nos outros fadistas que cantaram antes dela. Dava pulinhos, sorria muito e tinha uma pronúncia vincada do Norte. Vinha de Barcelos, e não chegara assim há tanto tempo a Lisboa. Perdi-lhe o rasto. E tive medo, com o seu vídeo O Meu Amigo Está Longe, que tivesse perdido a ingenuidade que vira naquele concerto informal. Não. Afinal não. Foi a mesma Gisela que vi no palco do Coliseu. E trago-a aqui porque neste concerto percebi que a Gisela não pode senão ser a prova cabal da sobrevivência do fado.
Os ténis. Primeiro os ténis. Despreocupados, vão para cima do palco e são todo um programa. É ela a dizer: «O fado é meu e eu faço o que me apetece.» Uns pés descalços têm alma, querem transmitir uma ideia, solene, até. Os ténis não. Os ténis podiam estar na rua, numa discoteca. São a banalidade, o conforto. O estar em casa. Podiam ser umas pantufas.
É esta ideia de banalidade, de ser assim porque sim, que é absolutamente revolucionária nesta já não tão menina de 31 anos que mantém a frescura dos 17 com que se iniciou profissionalmente no fado. Gisela não tem o ar grave dos fadistas – todos, mesmo os que cantam em casas de fado, acabam por ganhar esse tique.
Quando ela canta Madrugada sem Sono é tão absolutamente verosímil a sua voz rouca, cava e melodramática, como depois, acabado o trinado final, o seu sorriso de menina para o público. Isto não devia bater certo. Mas bate. É artificial? Pois, a questão é que não é. Ela já contou que começou a gostar de fado aos 7 anos e aos 13 já cantava o Ai Mouraria. Porque este fado falava de um rapaz moreno e ela estava apaixonada pelo Frederico, que era moreno e da sua turma. Se calhar é isso. O fado apareceu na vida dela. E faz parte dela de forma tão natural que não precisa de formalismos.
[Publicado originalmente na edição de 8 de fevereiro de 2015]