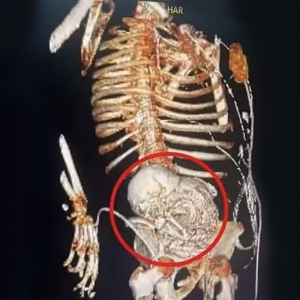E agora, onde me enfio?
Toda a vida ouvi, e não é impossível que alguma vez tenha repetido (já fui dado a esse género de proclamações), que os da minha geração até pancada levaram e sobreviveram para contar a história. Mas, caramba, nenhum de nós está totalmente bom da cabeça, pois não?
Eu já temia este momento há um certo tempo. De vez em quando ia conferir alguma coisa à agenda, quase sempre numa daquelas quimeras de desocupação suficiente para acondicionar um jantar a dois, nove buracos de golfe, duas horinhas consecutivas de leitura de um romance – ah, ler um romance durante duas horas sem parar, o meu reino por poder ler um romance durante duas horas -, e voltava a encontrar-me com aquela mancha cor-de-laranja: “A partir de hoje, começar a discipliná-lo”.
O cor-de-laranja tinge, no meu iCall, as entradas da categoria “Família, bebés & etc.”. E, naturalmente, o dito “disciplinar” é menos do que disciplinar: é, digamos, contrariar. Acontece que, ainda antes de o Artur nascer, li não sei onde que os oito meses eram o momento a partir do qual se devia educar uma criança. E, de repente, é chegada a hora e eu não só continuo sem a mínima ideia do que devem ser as rotinas de educação de um bebé de colo, mas inclusive estou muito longe de ser capaz de definir o grau de intervenção ideal para a educação em geral – tenha que idade tiver o garoto, e esteja em causa que rotina esteja.
Toda a vida ouvi, e não é impossível que alguma vez tenha repetido (já fui dado a esse género de proclamações), que os da minha geração até pancada levaram e sobreviveram para contar a história. Mas, caramba, nenhum de nós está totalmente bom da cabeça, pois não? E olhem que falo do alto de quem levou uns beliscões, uns puxões de orelha e pouco mais: ainda hoje os sinto e, ao fim de 40 anos, persiste por demonstrar terem tido qualquer efeito positivo no homem que sou. Portanto, apenas posso imaginar quanto a quem levou de vime e mangueira – que revolta, que infinita tristeza, que sensação de desamor não sentirão ainda?
Continuavam muito rudes, os portugueses dos anos 1980 (e estou a excluir daqui a chantagem, que é todo um outro problema). Aproveitemos o seu exemplo, portanto, para deixar estabelecido que os correctivos físicos ficam fora da equação. Mesmo assim: como se educa uma criança? Conversamos com ela? Castigamo-la com penas de gravidade variável, proporcional a cada crime? Negociamos? E quando intervimos, exactamente? Com que veemência? Em que ponto deixamos o aviso assentar? Que cara fazemos?
Uma psicóloga francesa cujas ideias fui consultar concorda que está na altura de começar e acha mesmo que, daqui a quatro escassos meses, o meu filho já conseguirá processar pequenos castigos. Primeiro, terei de explicar três vezes o que está errado; depois, e persistindo o comportamento, de impor pausas de um ou dois minutos num “espaço seguro”, vulgo quarto. Tudo bem, dois minutos passam depressa. Mas é o que ela define como mau comportamento que me inquieta. “Reagir demasiado emocionalmente”, “fazer demasiado barulho”, “queixar-se por nada”, “queixar-se por tudo”, “falar muito alto” – isto é, o suficiente, temo bem, para o Artur ficar fechado no quarto até ir para a faculdade, dois minutos atrás de dois minutos.
E depois, o que é que se faz quando o crime não for falar alto, mas verter o Fairy Ultra dentro da torradeira? Ou roubar um Milka de avelãs no Aki Perto? Ou destravar o carro até o fazer deslizar pela ribanceira abaixo? E se eu não for bom a tratar disso, meu Deus – e se nenhum de nós tiver o mínimo jeito para isso?