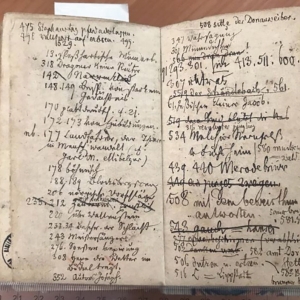Há dias, subi pelo empedrado do Castelo passei pela porta nº 1 lembrando-me de um tio avô que morara ali, o Camel, que foi contrabandista. No jardim, sob uma oliveira retorcida, onde estudante beijei a minha primeira lisboeta, olhei Lisboa. Conto isto para vos dizer que estou na minha cidade. A confirmá-lo, os auscultadores deram-me Amália. Ela cantava Flor de Lua, palavras dela: «solidão» «ansiedade», «velho cardo», «eu sou tua», «campo chão», «sargaçal», «campa rasa»… Foi uma epifania. Eu julgava morrer incréu e encontrei a minha estrada de Damasco no Castelo de São Jorge – encontrei tarde, mas bem, com a mais bela das deusas. Fui estudar o inimigo (agora sou um combatente, a palavra é essa) e vi que ele tinha publicado um mapa delineando o Califado a negro, como as vestes de um cortador de pescoços. Ao meu território chamou Andalus.
Parti para a raiz, porque se queres defender tens de saber o que tens para defender. Andaluzia, pois, e lá, Carmona, na Via Augusta, entre Hispolis (Sevilha) e Corduba (Córdova). Júlio César disse “Carmo, quae est longe firmissima totius provinciae civitas”, o que explica a minha escolha de Carmona, a mais forte. Uma planície de campos trabalhados e regados pelo longínquo Guadalquivir, sobre a qual se ergue a cidade. Rochas de declives verticais e sobre a mais alta, o Alcazar. Compreendo-te, César, mas não me fio só nas alturas (desconhecias a aviação) e as muralhas são frágeis – as de Carmona guardam brechas do terramoto de Lisboa. É das gentes que espero e confio.
Sentei-me no lugar certo, na Plaza San Fernando, num fim de tarde com a algazarra de estorninhos que atacavam os insetos das árvores. Bares, frontarias de estilo mudéjar, varandas que já assistiram a touradas, garotos que jogavam à bola fintando a tabuleta «proibido jogar à bola» ou pedalavam à volta do lampadário central de mármore branco e ferro forjado. Na esplanada, pedi jamón ibérico e jerez seco – todo um programa de guerra de civilizações –, enquanto analisava a moda feminina deste verão andaluz: calções justos que libertavam colinas suaves. Entreguei-me à Arte da Guerra, de Sun Tzu, sem folhear uma só página. Foi no domingo passado (olá, outra vez, deusa Amália), 31 de Agosto.
Vindo da estreita calle Prim, o som de cascos sobre empedrado alvoroçou o meu bairro. A praça virou-se para a romaria que aí vinha, as mesas das esplanadas foram prevenidas de que tinham de se encostar, cavalos e cavaleiros passavam mas não os carros de bois. Às frente, uma charrete puxada a burro solitário tirava as medidas e anunciava os costumes. O cocheiro tinha as pálpebras a meio taipal, distribuía gelo e goles de uísque quando conseguia acertar com os copos que lhe estendiam. Rapazes e raparigas cantavam coplas com uma alegria que respondia à altivez dos jinetes tão hirtos como as abas dos chapéus andaluzes. Lentos a chegar, os carros de bois permitiam às mulheres de sevilhanas expor as silhuetas modeladas. O primeiro dos carros de bois trazia na canga um retábulo prateado e era encimado pela imagem da Vírgen de Gracía que saíra nessa manhã a visitar a ermida, onde fora encontrada há séculos, e voltava ao entardecer para a sua capela na igreja de Santa Maria de la Asunción.
À entrada da igreja, que se faz por um pátio de laranjeiras, a procissão parou, o carro de bois recuou para o portal e os romeiros despediram-se em festa. Que dizer, os jinetes lançavam o desafio, as coplas eram bailadas e as mulheres, com os seus vestidos largos e apertados, com o mesmo contraste que a pintura tira partido no claro-escuro, dizer e não dizer, mostrar e não mostrar, provocar e negar, culminavam com as suas mãos flamencas dançando no ar. Essa sensualidade no adro era pontuada pelo som dramático que caía do céu, com os três sinos badalando.
Voltei para o relatório otimista que deixo aqui. Eles podem tentar vir, podem. Mas vão saber que não o queremos, ao seu maldito mundo de morte.
Publicado originalmente na edição de 7 de setembro de 2014