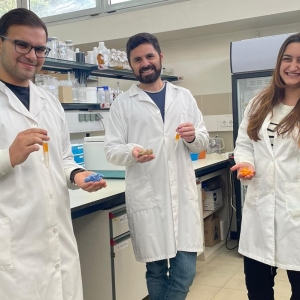Texto de Catarina Pires
O feminismo e a luta pelos direitos das mulheres em Portugal não teve a força e expressão que assumiu em países como a França ou os EUA. Quarenta e oito anos sob ditadura fascista têm os seus efeitos. Mas não chegaram para calar todas as vozes.
No mesmo ano em que Simone de Beauvoir, a mãe do feminismo moderno, escrevia O Segundo Sexo, Maria Lamas calcorreava Portugal em busca d’ As Mulheres do meu País. Obras que estão lá, nas Novas Cartas Portuguesas das célebres «Três Marias» cujo julgamento em 1973 indignou, e mobilizou, movimentos feministas em todo o mundo.
«Nunca quisemos fazer uma bíblia feminista, isso nunca foi sequer discutido», diz Maria Teresa Horta sobre as Novas Cartas Portuguesas, livro maldito para a ditadura de Marcello Caetano que o proibiu e mandou prender as suas autoras, Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, as «Três Marias», como viriam a ficar conhecidas, nacional e internacionalmente.
O escândalo rompeu fronteiras e a edição de 23 de Julho de 1973 da Time dedica-lhe um artigo com o título The case of the Three Marias [O caso das Três Marias]: «”Putas ou lésbicas, tanto se nos faz que nos nomeiem, desde que se lute e não se perca (…) Chega. É tempo de gritar: chega. E formarmos um bloco com os nossos corpos.” Estas palavras foram retiradas de uma colecção de escritos ardentemente feministas que “ofendem a moral pública” e “abusam da liberdade de imprensa”.
«Pensaram que podiam afastar as pessoas de nós acusando-nos de mulheres de má vida. Enganaram-se», Maria Teresa Horta.
Essa foi pelo menos a acusação que recaiu sobre as três autoras quando os censores em Portugal decretaram a sua prisão e baniram o seu livro, Novas Cartas Portuguesas, um comentário sobre a condição da mulher naquele país machista.
Para as feministas de todo o mundo, assim como para os defensores da liberdade de imprensa, a acção policial contra as mulheres portuguesas em Junho de 1972 foi um escândalo que aos poucos se tornou o centro de um movimento de protesto internacional», lê-se na revista norte-americana.
Protesto que envolveu, em Inglaterra, os escritores Doris Lessing, Iris Murdoch e Stephen Spender que, segundo a Time, assinaram uma carta atestando o valor literário do livro, enquanto nos EUA uma conferência patrocinada pela National Organization for Women votava para que o caso se tornasse a primeira causa feminista internacional. Em várias cidades americanas e do resto do mundo houve manifestações de solidariedade no dia 3 de Julho de 1973, primeira data marcada para o julgamento.
«Foi o processo que se seguiu à publicação do livro que levou a esta repercussão. Recebemos grande solidariedade de outras mulheres. Ao contrário do que se diz, somos solidárias umas com as outras», sublinha Maria Teresa Horta.
Não queriam escrever uma bíblia feminista, mas Novas Cartas Portuguesas foi um marco do feminismo em Portugal
«Percebemos que as coisas estavam a tornar-se perigosas e fizemos passar o livro para fora. Mandámos para a Simone de Beauvoir, para a Marguerite Duras e para a Florence Rochefort e desenvolveu-se um grande entusiasmo e solidariedade à nossa volta.»
Maria Teresa tem a certeza de que, se não tivesse acontecido entretanto o 25 de Abril, as três tinham sido presas. «No dia do julgamento [Outubro de 1973], estava cá a televisão americana e pediu para filmar a sessão», o que terá contribuído para que o juiz adiasse a sentença, mas, garante a escritora, este «já tinha recebido ordens do Moreira Baptista [então secretário nacional da Informação] para que a pena fosse de prisão.»
E continua: «Pensaram que podiam afastar as pessoas de nós acusando-nos de mulheres de má vida, classificando o livro de pornográfico, para fazerem passar a imagem de que se tratava de um processo moral e não político. Enganaram-se.»
Como se enganou o mesmo Moreira Baptista quando proibiu Minha Senhora de Mim (1971) e ameaçou Snu Abecassis, da Dom Quixote, de lhe fechar a editora se publicasse mais alguma coisa dessa senhora, Maria Teresa Horta. Sem saber que o fazia, lançava mais uma acha para fogueira da criação. «Proíbem-me e eu incandesço», disse Horta numa entrevista [Cadernos de Jornalismo].
«Por causa do Minha Senhora de Mim fui espancada na rua, recebia telefonemas em casa, diziam coisas horríveis, o meu filho tinha sete anos e percebia tudo, o Luís [o marido] preocupava-se, n’A Capital, onde eu trabalhava, os mesmos telefonemas. Andava muito desmoralizada. Foi então que num dos nossos almoços – eu, a Maria Isabel Barreno e a Maria Velho da Costa almoçávamos todas as quartas-feiras no Bairro Alto – a Maria Velho da Costa disse “realmente, isto é incrível, se uma mulher sozinha faz tanto barulho, como seriam três?”.
«O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoirm mudou a minha vida, hoje não seria quem sou se não o tivesse lido», diz Maria Teresa Horta.
Assim surgiram as Novas Cartas Portuguesas. Queríamos um título catalisador e este afigurou-se o mais evidente: tinha a ver com Mariana Alcoforado, presa num convento por ordem do pai, apaixonada por um cavaleiro francês. Juntava tudo, literatura, paixão, a condição da mulher. Criámos as regras e começámos a escrever. Quando acabámos, fizemos as contas e percebemos que tínhamos demorado nove meses. Foi um acaso.»
Não queriam escrever uma bíblia feminista, mas Novas Cartas Portuguesas (ou de como Maina Mendes pôs ambas as mãos sobre o corpo e deu um pontapé no cu dos outros legítimos superiores) foi um marco do feminismo em Portugal. E estava imbuído desse espírito.
Aliás, a própria Maria Teresa reconhece: «Eu e a Isabel Barreno éramos feministas, a Maria Velho da Costa não, nunca se disse feminista, embora seja. Tínhamos consciência da situação da mulher e daquilo que queríamos fazer e a nossa escrita era reflexo disso.»
O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, não tinha sido autorizado a atravessar a fronteira da ditadura, mas Maria Teresa leu-o aos 15 anos, na biblioteca do pai de uma amiga, com um dicionário de francês ao lado. «Mudou a minha vida, hoje não seria quem sou se não o tivesse lido.»
«E sim, se me pergunta se os acontecimentos do Maio de 68 influenciaram as Novas Cartas Portuguesas, digo-lhe que está lá o espírito, tínhamos notícias por amigos que estavam em França ou por jornais estrangeiros que acabavam por nos chegar. Perpassa no livro um espírito libertário, do sonho, da igualdade, do “faz amor, não a guerra”. Mas não foi essa a nossa motivação. A nossa motivação foram as mulheres no nosso país.»
O segundo sexo
Um país onde, segundo o artigo 5.º da Constituição da República, todos os cidadãos eram iguais perante a lei, «salvas, quanto à mulher, as diferenças resultantes da sua natureza e do bem da família» e onde, por trabalho igual, elas ganhavam menos cerca de quarenta por cento do que os homens, que segundo o Código Civil em vigor até 1975 eram os chefes de família, cabendo a elas o governo doméstico.
Eles estavam habilitados a dispor do salário delas, a proibi-las de trabalhar fora de casa ou a rescindir-lhes o contrato. Elas tinham legalmente o domicílio do marido e eram obrigadas a residir com ele, que tinha o direito de abrir a correspondência delas. E se elas fossem apanhadas em flagrante adultério, sentenciava o Código Penal que eles podiam matá-las, já que a pena não ultrapassaria um desterro de seis meses.
Se as mulheres fossem apanhadas em flagrante adultério, sentenciava o Código Penal [em vigor até 1975, mas pelos vistos ainda válido na cabeça de juízes como Neto de Moura] que eles podiam matá-las, já que a pena não ultrapassaria um desterro de seis meses.
Talvez para evitar tais despautérios, até 1969, a mulher não podia viajar para o estrangeiro sem autorização do marido. O planeamento familiar era proibido, os médicos não estavam autorizados a receitar contraceptivos orais, a não ser para fins estritamente terapêuticos, e o aborto era punido em qualquer circunstância, com pena de prisão de dois a oito anos. Pouca coisa comparada com a sentença de morte a que muitas se arriscavam ao fazer um aborto clandestino – estimava-se em mais de cem mil por ano – por já não poderem ter mais filhos para criar.
«E morreu, por fazer um aborto com um pé de salsa, morreu de septicemia, a mulher-a-dias que limpava o escritório onde trabalho, e soube depois, pela sua colega, que era o seu vigésimo terceiro aborto. E contou-me, há anos, uma amiga minha, médica, que no banco do hospital eram tratadas com desprezo as mulheres que entravam com os seus úteros furados, rotos, escangalhados por tentativas de abortos caseiros, com agulhas de tricô, paus, talos de couve, tudo o que de penetrante e contundente estivesse à mão, e que lhes eram feitas raspagens do útero a frio, sem anestesia, e com gosto sádico, “para elas aprenderem”.»
O número de abortos era muito elevado e era uma das principais causas de morte materna. O único serviço de urgência que recebia mulheres com complicações de aborto era o da Magalhães Coutinho
Este excerto de Novas Cartas Portuguesas não será estranho a Purificação Araújo, médica obstetra que participou activamente nas campanhas de planeamento familiar antes (clandestinamente) e logo a seguir ao 25 de Abril. «O número de abortos era muito elevado e era uma das principais causas de morte materna. O único serviço de urgência que recebia mulheres com complicações de aborto era o da Magalhães Coutinho, os outros não aceitavam, era uma brutalidade terrível. Tudo isto aconteceu nos meus dias de interna, assisti às coisas mais horrorosas.»
Apesar de a pílula – lançada pela primeira vez nos EUA a 18 de Agosto de 1960, com a designação comercial de Enovid-10 – ter chegado a Portugal em 1962, como já se disse só podia ser prescrita para fins terapêuticos e era, segundo Purificação Araújo, utilizada por muito poucas mulheres.
«Não havia qualquer informação nem acesso aos cuidados de saúde. Mas, para ter uma ideia, já estávamos em 1973 quando comecei a fazer sessões de esclarecimento sobre planeamento familiar, e as mulheres vinham ter comigo e contavam-me que o padre dizia que não tomassem a pílula porque fazia um buraco no estômago e era pecado. E elas consideravam que tendo de a tomar todos os dias tinham de se confessar todos os dias, portanto preferiam fazer um aborto, que também era pecado, mas só se confessavam daquela vez. Foi-me dito isto, assim.»
Purificação Araújo lembra que logo a seguir ao 25 de Abril se faziam autênticos comícios a favor do planeamento familiar, que só viria a ser legalizado em 1976.
A criação da Direcção-Geral de Saúde em 1971, da qual era director o Dr. Arnaldo Sampaio, foi, na opinião da obstetra, fundamental para o desenvolvimento do planeamento familiar.
«Começou a fazer-se ainda de forma clandestina, em alguns centros de saúde ou valências materno-infantis, com o apoio da Associação para o Planeamento da Família (APF), formada em 1967. Foi muito interessante porque se fazia sobretudo com mulheres grávidas, que já iam no sexto, sétimo e muitas vezes décimo filho e que já não queriam mais, mulheres com sífilis, maridos alcoólicos e outras complicações. Os profissionais de saúde começaram a perceber que tinha de se fazer alguma coisa por estas mulheres e a colaborar.»
Purificação Araújo lembra que logo a seguir ao 25 de Abril se faziam autênticos comícios a favor do planeamento familiar, que só viria a ser legalizado em 1976, com o famoso despacho do Dr. Albino Aroso. «Mas logo as forças da reacção começaram a lutar contra ele. Pode avaliar o que era se comparar com o que foi a recente campanha contra a despenalização do aborto. As mesmas forças eram na época contra o planeamento familiar, todos os métodos eram classificados de abortivos, só os naturais eram válidos. A luta pelo planeamento familiar e pela educação sexual tem sido uma grande luta.» E ainda está por vencer.
Libertação? Qual libertação?
São muitas as mulheres que tomam a palavra, ou por quem a palavra é tomada, em As Novas Cartas Portuguesas, prisioneiras quase todas, todas?, dos homens, do amor, de si próprias, da sua condição. Mesmo as dos seventies, do «Portugal em plena era da libertação da mulher» – as que votam, são universitárias, se empregam, bebem, fumam, concorrem a concursos de beleza, usam mini-maxi-saia, hot-pants, tampax, dizem “estou menstruada” à frente dos homens, tomam a pílula, rapam os pêlos das pernas e de debaixo dos braços, põem biquíni, saem à noite sozinhas, vão para a cama com o namorado, já sabem o que querem dizer certas palavras, tais como: orgasmo, pénis, vagina, esperma, testículos, erecção, frigidez, clítoris, masturbação, vulva –, mesmo essas estão presas.
E perguntam Maria Teresa Horta ou Maria Isabel Barreno ou Maria Velho da Costa (nunca se sabe, neste livro, quem escreveu o quê): «O que podemos com elas [as palavras] em nosso favor e de mulher em mulher nos dizermos e contarmos do domínio que ainda somos, despojo hoje de guerreiros que se fingem companheiros em ajudada luta, mas que apenas pretendem montar-nos e serem cavaleiros de Marianas de outros cativeiros presas e monjas de diferentes conventos, sem disso se darem conta?»
As palavras podem muito, e foram elas a maior arma das feministas portuguesas.
As palavras podem muito, e foram elas a maior arma das feministas portuguesas. E, por consequência, de Maria Lamas – outra Maria – que, em 1948, 24 anos antes de As Novas Cartas Portuguesas, foi para o terreno e traçou um retrato minucioso da condição da mulher no Portugal dos anos cinquenta.
Um retrato que explica muita coisa e que pouco se terá alterado até 1974. Não passando ao questionamento filosófico sobre o papel da mulher, como o fará, um ano depois, Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo, a sua imensa obra, As Mulheres do Meu País, é uma exortação à união e à luta destas por uma vida mais digna, livre, esclarecida e em pé de igualdade com o homem.
O livro, como conta a sua neta Maria José Metello de Seixas no prefácio à segunda edição (Editorial Caminho, 2002), foi a resposta da autora ao governador civil de Lisboa que mandou encerrar o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas – a que Maria Lamas presidia e ao qual tinha dado um dinamismo inconveniente – alegando que esta não deveria ter tanto trabalho nem preocupar-se tanto com a situação das mulheres, a quem o Conselho Nacional não era necessário, uma vez que o Estado Novo confiava à Obra das Mães o encargo de as «educar e orientar».
Maria Lamas percorreu o país de norte a sul, do litoral ao interior e ilhas, indo aos lugares mais recônditos, para saber como vivia a mulher portuguesa do seu tempo. A realidade era dura.
«A esta afronta feita à cidadã respondeu a jornalista: iria verificar e depois informaria.» A informação veio em fascículos mensais, num total de 15, tendo Maria Lamas percorrido o país de norte a sul, do litoral ao interior e ilhas, indo aos lugares mais recônditos, para saber como vivia a mulher portuguesa do seu tempo. Quais os seus sonhos, aspirações, pensamentos, sentimentos, destinos. A realidade com que se deparou era dura.
A camponesa deteve-lhe a atenção. Dedica-lhe mais de trezentas páginas e dela diz, em jeito de conclusão: «Não nos iludamos com a animação das romarias ou com o esplendor da mocidade que canta, ri e parece desafiar a própria vida, na hora culminante e fugaz do seu desabrochar. Cada uma dessas jovens se transformará em mulher que apenas trabalha e procria, sem outro horizonte, sem estímulo nem esperança, fechando-se mais e mais no desamparo e amargura da sua servidão. (…) O seu trabalho, tanto ou mais rendoso do que o do homem, tem remuneração muito inferior. A sua submissão ao marido vai ao ponto de se deixar espancar por ele sem reagir. A falta de gosto e consideração pela sua pessoa, juntamente com as privações e fadiga de todas as horas, leva-a ao abandono de si própria, logo que casa e lhe nasce o primeiro filho.»
«A vida profissional concorre muito para despertar a consciência da mulher», escrevia Maria Lamas no seu livro As Mulheres do Meu País.
Um destino não muito diferente do da «mulher do mar» ou da «operária», embora em relação a esta última Maria Lamas tenha verificado já existir, em algumas, uma sólida consciência social. Entre a classe média e alta, a «doméstica» continuava a ser a principal ocupação feminina, apesar de já serem muitas (ao tempo) as mulheres que – nas cidades – trabalhavam fora de casa. Das populares lavadeiras, vendedeiras, costureiras e criadas de servir às enfermeiras, hospedeiras, telefonistas, dactilógrafas, secretárias, assistentes sociais e professoras primárias, passando pelas mais raras médicas, advogadas, engenheiras ou arquitectas, entre muitas outras profissões onde as mulheres começavam a entrar aos poucos, de todas elas nos dá nota Maria Lamas.
A mulher que não se resignou ao papel que lhe era atribuído, que lutou contra a ditadura, pela paz e pelos direitos das mulheres, que conheceu os calabouços da PIDE e a prisão de Caxias e que foi obrigada ao exílio em França durante a década de sessenta (onde assistiu de muito perto aos acontecimentos do Maio de 68 e à greve geral, uma vez que vivia no centro do Quartier Latin, junto da Sorbonne), sublinha em As Mulheres do Meu País: «A vida profissional concorre muito para despertar a consciência da mulher, quanto ao seu dever de partilhar a vida geral e procurar valorizar-se moral, social e intelectualmente.»
Primeiro é preciso mudar o mundo
«Não nascemos mulheres, tornamo-nos mulheres.» Com esta frase, que faz a síntese das mais de mil páginas de O Segundo Sexo, através das quais, em 1949, Simone de Beauvoir questiona o próprio conceito de mulher, desconstruindo o papel, ou papéis, que lhe foi atribuído pela história, pela sociedade, pelo homem, são lançadas as bases para a segunda vaga do feminismo, que só viria a ganhar expressão vinte anos depois, no rescaldo do Maio de 68, quando as mulheres perceberam que a revolução dos homens não as incluía de igual para igual.
E só nessa altura é que a mãe do feminismo moderno se juntou ao movimento feminista «Só em 1971 ou 72 encontrei as jovens feministas, que me contactaram a propósito dos problemas do aborto. Comecei a trabalhar com elas porque a sua luta não passava por quererem tomar o lugar dos homens, mas por mudar o mundo feito por eles. Esta é uma ideia muito interessante, aos meus olhos», conta numa entrevista ao Le Monde, em 1978.
Questionada sobre se mantinha a fórmula central de O Segundo Sexo, a filósofa não hesita. Que sim, que quanto mais via e lia e aprendia mais confirmava a justeza da ideia. «Fabricamos a feminilidade como fabricamos a masculinidade.»
«Há cada vez mais agressões dos homens contra as mulheres. Creio que há uma hostilidade masculina que vem justamente da emancipação da mulher.», dizia Simone de Beauvoir nos anos 1970. POdia ser hoje.
Desde logo, pela forma diferenciada como se educam rapazes e raparigas. As diferenças não advêm do facto de existir uma natureza feminina e masculina, mas da cultura, da maneira como umas e outros são socializados.
E reconhece que sim, que se precipitou ao acreditar que a vitória das mulheres estava próxima. Trinta anos após a publicação do seu tratado filosófico, e apesar de todas as evoluções que se verificaram, em França e no mundo, já vencidas algumas lutas em que se envolveu pessoalmente, como a legalização do aborto, do planeamento familiar e da pílula contraceptiva, Simone de Beauvoir considerava que a situação da mulher tinha piorado.
«Há cada vez mais agressões dos homens contra as mulheres. Creio que há uma hostilidade masculina que vem justamente da emancipação da mulher.» Uma emancipação que tendo sido atingida no plano dos direitos sexuais e reprodutivos não o foi no fundamental: «A verdadeira emancipação situa-se no plano do trabalho e da independência económica.»
É preciso dar-lhes a vassoura e ensiná-los a varrer
Houve feminismo em Portugal? Teresa Joaquim, investigadora da Universidade Aberta, especialista em estudos sobre mulheres, considera que os 48 anos de ditadura impediram a transmissão de pensamento entre os movimentos feministas da primeira e da segunda vaga.
No início do século XX, a luta de mulheres como a médica Adelaide Cabete, a escritora Ana de Castro Osório e a professora Maria Veleda levaram à criação em 1909 da Liga Republicana de Mulheres e a conquistas fundamentais com a alteração do Código Civil e a Constituição de 1911, mas a sua grande reivindicação – o direito ao voto – não foi atendida.
Apesar da derrota, em 1914, Adelaide Cabete funda o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, que até à instauração da ditadura fascista desenvolve grande actividade em prol da emancipação feminina.
Mas o trabalho e o espaço de manobra das primeiras feministas portuguesas sofreu um duro golpe com a Constituição de 1933 e os quarenta anos de obscurantismo que se lhe seguiram. «O contexto da ditadura levou a que a chamada sociedade civil não tivesse lugar, o que quebrou a possibilidade de aparecimento de movimentos feministas. E essa pesada herança ainda hoje se faz sentir. A participação e a afirmação da cidadania continuam a ser muito frágeis na sociedade portuguesa, daí a dificuldade que ainda hoje têm os movimentos feministas, ecologistas ou outros em se afirmar. É o fruto da socialização que as pessoas tiveram e estas coisas não se mudam por decreto», explica Teresa Joaquim.
«O contexto da ditadura levou a que a chamada sociedade civil não tivesse lugar, o que quebrou a possibilidade de aparecimento de movimentos feministas», Teresa Joaquim.
No entanto, havia quem teimasse em lutar. Dulce Rebelo, fundadora do Movimento Democrático de Mulheres (MDM) em 1968, conta como foi: «O movimento não era oficializado, a comunicação era feita ouvido a ouvido, fazíamos encontros sob a forma de excursões ou piqueniques, através dos quais, clandestinamente, distribuíamos postais alusivos às questões em campanha e onde fazíamos sessões de esclarecimento. O que estava em causa era lutar contra o custo de vida, a censura, a guerra colonial, por melhor assistência médica e protecção à maternidade. Procurávamos dar às mulheres uma maior consciência social e política.»
Uma luta que continua trinta e quatro anos depois do 25 de Abril [à data em que foi escrito este artigo] e da igualdade de todos os cidadãos perante a lei consagrada pela Constituição da República e o desaparecimento do Código Civil de todos os absurdos que à mulher diziam respeito. «O mais difícil de mudar são as mentalidades», remata Dulce Rebelo.
Daí que ainda seja necessária a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a que Elza Pais preside [presidia à data em que foi escrito este artigo] e que sucedeu à Comissão para a Igualdade e Direitos das Mulheres.
«No plano dos direitos, a igualdade já se alcançou, contudo, no plano prático, as discriminações continuam. Por exemplo, a nível salarial mantém-se um gap de 15 por cento para trabalho igual entre os salários de mulheres e homens; ao nível das carreiras, as mulheres não chegam, como os homens, aos lugares de topo, nem nas empresas nem na administração pública, sobretudo devido à difícil conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, porque continua a não existir complementaridade na divisão de tarefas.»
Se assim é, porquê a alteração do nome da comissão? «Porque a linha é a da promoção da igualdade de género, incentivando uma maior participação das mulheres na vida profissional e dos homens na vida familiar e doméstica. É esta a mudança de paradigma que se quer atingir. É uma linha que não exclui, antes integra. Não se trata de uma luta de sexos, mas de uma união para se chegar a novas conquistas. O que se faz com leis, mas sobretudo com a mudança de atitudes. É preciso difundir estes valores desde tenra idade, através da educação para a cidadania, na escola e em casa.»
«Enquanto as mulheres não puserem uma vassoura na mão dos homens e lhe disserem para ele varrer, em vez de varrerem por ele, nada mudará», Purificação Araújo.
Para o alcançar, Purificação Araújo chama as mulheres à responsabilidade: «Já estão em maioria nas universidades e têm as melhores notas, agora há que lutar para chegarem também aos lugares de decisão. Só assim nos ajudarão a mudar esta sociedade. Afinal elas são a “outra metade da humanidade”. Tenho vergonha quando numa reunião importante só vejo homens, todos de fato, muito cinzentões. Escuso de dizer que por estes dias o Zapatero [cujo governo era maioritariamente feminino] é o meu herói», brinca a médica.
Simone de Beauvoir, se a ouvisse, talvez concordasse com a primeira parte, mas certamente, em relação à façanha do primeiro-ministro espanhol, lembraria aquilo a que chamou as «mulheres-álibi», aquelas que os homens fazem chegar aos lugares de topo para dizerem às outras que é possível e as distraírem assim das questões fundamentais. E a médica, nesse diálogo imaginário, talvez dissesse: «Bem visto!»
A nós responde, para acabar com a conversa, que já vai longa, com uma exortação: «As portas estão abertas, há a igualdade no papel, a mulher tem de fazer cumprir as leis. Sim, claro que não depende só dela, mas depende em grande parte dela. A tradição ainda pesa muito, mas enquanto elas não puserem uma vassoura na mão do marido e lhe disserem para ele varrer, em vez de varrerem por ele, nada mudará. Claro que é mais fácil fazerem-no porque vão perder que tempos a explicar como é que se varre e depois ele vai varrer tudo mal e lá têm elas de ir varrer por cima… Mas ninguém disse que o caminho seria fácil.»
[Este artigo, publicado em maio de 2009, recebeu em 2010 o Prémio «Paridade: Mulheres e Homens na Comunicação Social», da CIG]