
Receamos os pesticidas, o terrorismo, as doenças, falar em público, ladrões, não fazer o melhor pelos filhos. O mecanismo-base é biológico, mas atrás de cada um dos piores receios está geralmente alguém que nos vendeu esse temor. É por isso que, não por acaso, uma parte substancial desses pavores é dirigida às coisas erradas.
Em 1820, os tripulantes do navio Essex, que se encontrava em alto-mar para capturar baleias e extrair-lhes o óleo, foram alvo de um ataque desses mamíferos – uma história que haveria, de resto, de inspirar “Moby Dick” de Herman Melville. À deriva em alto-mar, os tripulantes tinham duas opções: rumar até as Ilhas Marquesas, na Polinésia, a dois mil quilómetros, ou tentar chegar à costa da América do Sul, bastante mais distante.
Escolheram a segunda opção porque, dizia-se, na região das Marquesas havia canibais. O destino revelou-se irónico: durante os longos meses no mar para tentarem alcançar a distante costa americana, sem mantimentos, os homens viram-se transformados naquilo de que queriam fugir e foram obrigados a alimentar-se dos próprios companheiros mortos para se manterem vivos. A história pungente mostra como o medo – uma emoção primordial que nos ajuda a sobreviver desde sempre – pode também estar na origem das piores decisões humanas.
“O problema com os medos exagerados é que provocam respostas irracionais”, diz Barry Glassner, professor de Sociologia, figura de proa no estudo do medo, autor de nove livros, incluindo “The Culture of Fear: Why Americans Are Afraid of the Wrong Things” (A cultura do medo: Por que é que os americanos temem as coisas erradas; sem edição em português). E uma das coisas que os americanos mais temem, defende, é a comida.
“Basta considerar alguns dos alimentos e bebidas que alguns autoproclamados especialistas nos dizem para recear: ovos, leite, chocolate, café, carne. De facto, o que a evidência mostra é que quando consumidos com moderação, eles não são apenas seguros para quase todos como podem ser benéficos. O que é pior é que as campanhas que demonizam alimentos têm na realidade contribuído para o aumento da obesidade e outros resultados indesejados.”
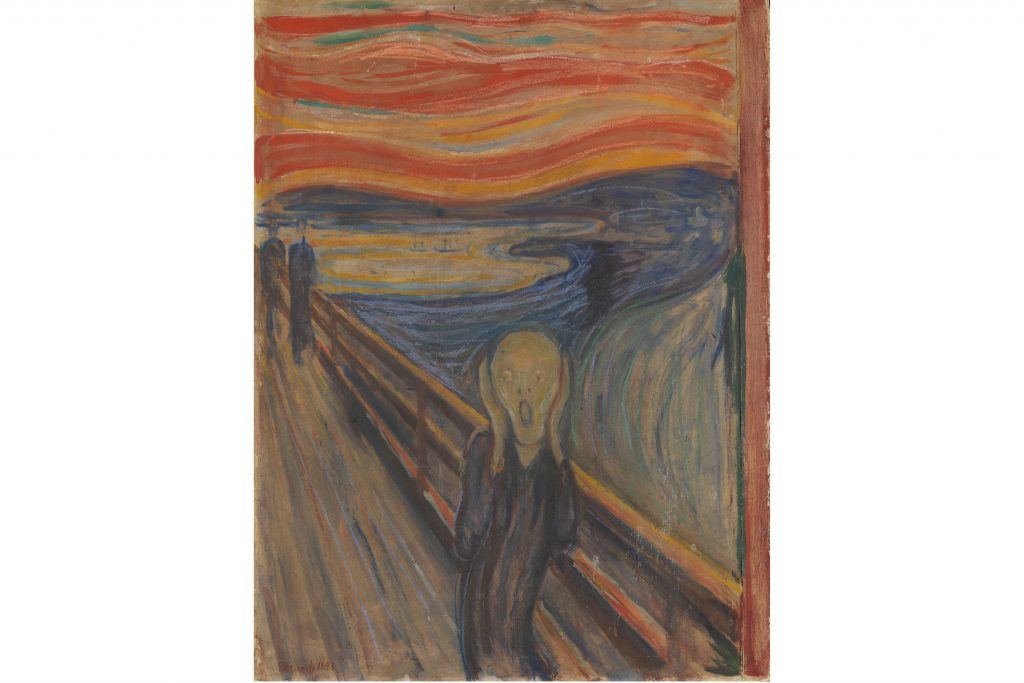
A edição original do seu livro tem 20 anos, mas foi feita uma reedição em 2018, motivada pelos chamados “anos Trump”. “O nosso atual presidente – a quem me refiro como ‘o supremo promotor do medo’ – espalha inúmeros receios infundados acerca dos imigrantes, da criminalidade, dos meios de comunicação social e dos opositores políticos. Hoje gastamos muito dinheiro a combater perigos insignificantes e aprovamos leis repressivas por causa disso”, defende o académico em entrevista à “Notícias Magazine”.
Mas apesar do advento da Internet e das redes sociais lhes ampliarem os recursos, os criadores do temor são hoje os mesmos que há 20 anos. “Continua a ser através da promoção do medo que os grupos de interesses angariam dinheiro para as suas organizações, que os profissionais de marketing vendem produtos, que os media atraem leitores e que os políticos se vendem ao eleitorado”, destaca Glassner.
Este problema não passa ao lado dos chefes de Estado. Em setembro de 2019, por exemplo, durante o Folio – Festival Literário Internacional de Óbidos, Marcelo Rebelo de Sousa criticou a “instrumentalização do medo”, declarando que “existem demasiados poderes que têm medo que o medo acabe”.
O problema das narrativas dominantes
O medo é, também, uma narrativa que fazemos a nós mesmos e que parte frequentemente de uma visão distorcida do Mundo. Trabalhos como o de Hans Rosling, da Gapminder Foundation, mostram que nunca vivemos tão bem como hoje e, no entanto, a maioria das pessoas tem a perceção de que o Mundo está cada vez pior.
Isto faz com que tenhamos pavor das coisas erradas: receamos morrer quando entramos num avião, mas o que nos mata mais são os acidentes de viação. Temos medo do terrorismo, mas ignoramos paulatinamente as alterações climáticas que nos causam danos todos os dias. E temos, claro, medo da criminalidade, apesar de as estatísticas mostrarem uma diminuição da violência na generalidade dos países ocidentais. Em Portugal, uma análise mostra que, desde 2008, a criminalidade violenta recuou 42,5 %.
 Os receios relativos à criminalidade são habitualmente marcados pelo chamado paradoxo da insegurança, que se caracteriza pelo desencontro entre os níveis de crime e os níveis de medo. Esse viés, preconizam várias teorias, é causado pelas narrativas dominantes dos media, que tendem a reportar sobretudo o que é fora do normal. Como os crimes mais violentos têm mais representatividade nos media, há uma sensação de que esse tipo de crime aumentou, pese embora seja estatisticamente pouco frequente.
Os receios relativos à criminalidade são habitualmente marcados pelo chamado paradoxo da insegurança, que se caracteriza pelo desencontro entre os níveis de crime e os níveis de medo. Esse viés, preconizam várias teorias, é causado pelas narrativas dominantes dos media, que tendem a reportar sobretudo o que é fora do normal. Como os crimes mais violentos têm mais representatividade nos media, há uma sensação de que esse tipo de crime aumentou, pese embora seja estatisticamente pouco frequente.
No livro “Criminalidade e Segurança”, a antropóloga Manuela Ivone Cunha traça o resultado deste fenómeno em Portugal: nos inquéritos de 2004 e 2005 do International Crime Victims Survey, num total de 30 países, Portugal estava entre os quatro com o risco mais baixo de vitimização e, no entanto, o país encontrava-se no top dez daqueles em que as pessoas tinham níveis de receio mais elevados.
Mas há, garante a autora no seu livro, outras idiossincrasias: os homens jovens são os que revelam menos medo de ser vítimas de crimes, apesar de serem os mais afetados; as pessoas receiam mais o crime violento, embora o crime contra a propriedade seja mais frequente; teme-se mais a noite, mas a maioria dos crimes ocorre de dia; e as mulheres receiam sobretudo o crime de rua, não obstante a maior probabilidade de serem vítimas no seu espaço privado.
“O ‘EVITAMENTO’ É UMA PALAVRA CENTRAL. O MEDO TORNA-SE UM PROBLEMA QUANDO É UM OBSTÁCULO À LIBERDADE INDIVIDUAL E EXPERIENCIAMOS UM MEDO IRRACIONAL, SOBRE O QUAL NÃO SENTIMOS CONTROLO, E PASSAMOS A EVITAR SITUAÇÕES QUE SÃO IMPORTANTES PARA NÓS”
NUNO MENDES DUARTE
PSICÓLOGO
Estado de paranoia parental
O interesse de Frank Furedi pelo estudo do medo começou há décadas. O sociólogo húngaro radicado no Reino Unido, autor de livros como “How Fear Works” (Como funciona o medo; sem edição em português) e professor emérito na Universidade de Kent, começou a olhar para o tema em 1995, quando nasceu o filho.
Como todos os pais de primeira viagem, enquanto se dirigia para a maternidade para conhecer o recém-nascido carregava algumas preocupações: será que a mulher estava a sentir-se bem? Será que o bebé iria chorar muito? Cresceria saudável? Quando chegou, uma das responsáveis chamou-o. Disse: “Sr. Furedi, fique tranquilo. Aqui colocamos pulseiras localizadoras no pulso dos bebés, para evitar que se percam ou sejam raptados”. Furedi vive no condado de Kent, a uma hora de Londres, uma região predominantemente rural, calma e bucólica conhecida como o jardim de Inglaterra. A última das suas preocupações seria raptarem-lhe o filho no hospital. Começou a pensar: porque será que até numa das mais bonitas experiências humanas, o nascimento de um filho, somos imediatamente bombardeados com medos infundados?
Começou a dar-se conta que o pavor é um manto que nos cobre e molda a maneira como pensamos e vivemos – e, em especial, a relação com as crianças e jovens. Furedi defende que desde há algum tempo passámos de uma preocupação parental normal para um estado de “paranoia parental”. Explica à NM: “A parentalidade é retratada como algo muito difícil e os pais estão sob pressão constante porque lhes dizem que qualquer erro terá um impacto muito negativo nos filhos”.
Ao mesmo tempo, a infância é retratada como uma experiência muito perigosa e as características normais da vida das crianças foram reinterpretadas como muito mais arriscadas. “Consequentemente, tudo o que elas fazem ou usam vem com um aviso de saúde”, observa o sociólogo, que se lembra que, pouco tempo após o nascimento do filho, lhe tentaram vender numa loja de brinquedos um capacete para colocar nos miúdos dentro de casa, para quando começam a gatinhar e andar.
O medo, considera Furedi, tornou-nos hesitantes, avessos ao risco e inseguros. “Tendemos a venerar a segurança e a sociedade encoraja-nos cada vez mais a ser fatalistas.” O antídoto, acredita, é a revalorização da coragem e também adotar uma forma de criar os filhos que procure cultivar a independência. “Precisamos de lhes restaurar o espírito de aventura e de experimentação.”
Um fenómeno social ou individual?
O medo é uma emoção fundamental que ajuda a mobilização em caso de perigo. “A segurança é uma necessidade humana fundamental e o nosso organismo, em interação permanente com o meio, procura avaliar e prever a manutenção dessa mesma segurança”, descreve Nuno Mendes Duarte, psicólogo e diretor clínico da Oficina de Psicologia, em Lisboa. “Isso quer dizer que, a cada perceção de perigo, o nosso sistema sinaliza medo para conseguirmos fugir ou evitar a situação.”
Vamos fazendo um ajuste, ora reforçando a resposta ao medo, ora perdendo esse temor se nos for garantida segurança nesse contexto. O que quer dizer que o pavor tem uma componente inata, mas os medos específicos são sobretudo aprendidos. O psicólogo ilustra com dois exemplos: se nunca aprendemos que uma cobra é perigosa é provável que não a receemos; por outro lado, pavores infantis como o escuro e a trovoada vão sendo dissipados à medida que entendemos que não representam perigo.
Claro que isto acontece quando tudo corre bem e não há uma patologia. As perturbações de ansiedade, quase sempre associadas ao medo, são muitas e frequentes, ressalva o psicólogo: as fobias específicas, que representam um terror irracional de algo inócuo; a perturbação do pânico, que faz com que pessoas que tiveram um ataque de pânico desenvolvam medo de voltar a ter outro; a Perturbação de Ansiedade Social, caracterizada por um temor excessivo de fazer algo embaraçoso ou inadequado socialmente; ou a perturbação de ansiedade de doença ou hipocondria, que é o medo persistente de ter um distúrbio. “De acordo como o relatório ‘Portugal: Saúde Mental em Números – 2014’, temos uma prevalência anual de perturbações ansiosas de 16,5%.”
Mas o que distingue exatamente um temor “normal” de uma perturbação da ansiedade associada ao medo? “O ‘evitamento’ é uma palavra central. O medo torna-se um problema quando é um obstáculo à liberdade individual e experienciamos um medo irracional, sobre o qual não sentimos controlo, e passamos a evitar situações que são importantes para nós”, explica Nuno Mendes Duarte. “O medo, cuja principal função é proteger-nos, passa a tolher-nos.”
Habituámo-nos a pensar no medo como um fenómeno individual, mas cada vez mais a sua componente social é estudada. “A importância de estudar o ‘lado social’ do medo está na repetição do fenómeno. Quando entrevistamos vários indivíduos e verificamos que os ‘tipos de medo’ se repetem entre eles, isto poderá querer dizer algo sobre o clima social”, expõe Patrícia Hermenegildo, autora da tese de mestrado em Sociologia “Medos Sociais numa Óptica Inter-Paradigmática: Uma Análise Exploratória de Quadros de Representação Portugueses”, em que tentou perceber quais são os principais medos sociais dos portugueses, conduzindo entrevistas a 77 pessoas.
Dos medos que se repetiram com frequência, a investigadora destaca o medo face ao futuro (relativo a condições de vida e à independência económica, mental, física) e medos relativamente às relações sociais (receio de não ser aceite, de conhecer pessoas, de falar em público, da imagem). “Existe uma dimensão muito primitiva nalguns destes medos”, realça. “Por exemplo, é natural que se tenha medo da rejeição ou da falta de autonomia física, pois implica questões de sobrevivência. Mas é importante perceber que a estrutura social também condiciona a existência e perpetuação desses medos.”
Resta saber se há uma forma portuguesa de ter medo. Há quem considere que a cultura e a história portuguesas não se podem desligar dos medos dos portugueses. A autora recorre ao filósofo e pensador José Gil, que defende a ideia de que o medo se “herda” de geração em geração, pois está impregnado na nossa sociedade. “Porque Portugal tem a particularidade de ter saído do regime fascista, um ‘regime de medo’, há apenas 45 anos.”


















