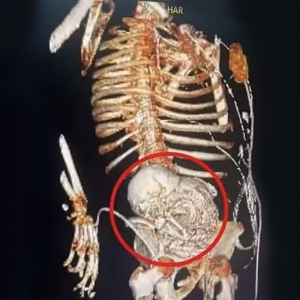É um tratado sobre teatro, como sempre são as raras entrevistas de Ricardo Pais. Aquele que é dos maiores responsáveis pelo sucesso do Teatro Nacional São João, agora a celebrar 100 anos, continua preocupado, pessimista e atento. “Sou diabolicamente exigente”, diz. Apesar de ter encontrado conforto na “autoprateleira” em que se colocou, 2020 é definitivamente o seu ano.
Não é possível falar de teatro em Portugal sem falar de Ricardo Pais. Fundou uma escola de atores, formou um público fiel e foi das pessoas que mais investiu numa política cultural sustentada. O encenador que queria ser ator, o criador que marcou inexoravelmente, revolucionando pelo menos três cidades – Porto, Coimbra e Viseu – já assinou mais de 50 obras. “Oleanna” foi considerada pelos críticos uma das peças de 2019. No fim deste ano, há de estrear “Monsanto”. O seu comboio nunca pára e, pelo meio, prepara um livro que reúne muitos dos seus textos e entrevistas. E a estação de televisão pública italiana RAI está a gravar um documentário sobre ele.
Aos 74 anos, Ricardo Pais volta ao Teatro Nacional São João (TNSJ), que dirigiu durante 15 anos, e que será sempre, de alguma forma, a sua casa, para oferecer a reposição daquela que é talvez a sua peça mais emblemática: “Turismo Infinito”, viagem pelo universo de Fernando Pessoa que andou em digressão pelo Mundo durante oito anos e somou mais de 18 mil espectadores. É a obra que dá início, no dia 7 de março, à celebração do centenário do TNSJ.
Como encara a reposição de “Turismo Infinito”, peça escolhida pelo TNSJ para assinalar o início da celebração do centenário do edifício de Marques da Silva? É o seu comeback?
Quando um espetáculo sobrevive estes anos todos, já não há comeback. Encaro como uma celebração, porventura demasiado institucional para o meu gosto. Mas não é coisa que não deva fazer-se. Essencialmente, é um reencontro de amigos. É uma jornada completamente sentimental.
Em 2007, quando estreou “Turismo Infinito”, dizia-se que não parecia uma obra de Ricardo Pais. Mas, em 2019, voltou a dizer-se o mesmo sobre “Oleanna”, a partir do texto de David Mamet. Afinal, que características definem o universo ricardopaisiano?
Um amigo de Braga costuma dizer-me que quando começa um espetáculo, ao terceiro passo do primeiro ator, já sabe que é um espetáculo meu.
Tem a ver com a importância dada à palavra dita?
Sempre dei a maior importância à elocução. A palavra, como toda a produção vocal, é o mais nobre elemento de expressão do ator. É parte do corpo e da interpretação que se faz do que se está a dizer, ou do personagem que se carrega. É isso que define o especificamente teatral.
Que outras marcas inclui no seu ADN criativo?
Há um lado que me é pouco perdoado pelas ortodoxias, que é o epicurismo, o prazer. Nunca fugi à complexidade dos problemas do Mundo, mas um espetáculo é uma coisa que deve seduzir. Esse lado epicurista começa logo no trabalho de sala. Porque só consigo ser diabolicamente exigente.
Há um método ricardopaisiano?
A metodologia é o que mais transparece nos espetáculos. Primeiro marcava todos os gestos de toda a gente ao pormenor, até a posição das mãos. Aquilo parece bem e tem a tensão interna suficiente porque é muito bem preparado. Depois, é preciso saber dividir o tempo de que cada ator precisa. E harmonizar o trabalho todo. Tudo isso se respira nos tais primeiros três passos. É uma rede de trabalho muito bem estabilizada, que passa depois pela compreensão do que aquele texto exige em termos de espaço cénico, de figurinos, de atitude estilística. A única vez que acabei um espetáculo sem o perceber foi o “Turismo”.
Disse que foi também a única vez que a obra transcendeu o criador. Porquê?
Porque me surpreende e me parece ter sido feito apesar de mim. É melhor do que eu, ou de que nós.
É a peça que faz a síntese do Ricardo Pais enquanto criador. Está lá tudo o que o identifica, incluindo o seu fascínio por Fernando Pessoa.
O Pedro Sobrado [presidente do Conselho de Administração do TNSJ] e o Nuno Cardoso [diretor artístico do TNSJ] defendem que “Turismo” é, de facto, um dos espetáculos mais sintéticos, não só porque cruza o universo pessoano e o meu próprio, mas também porque concentra tudo aquilo que tentei fazer no TNSJ: som, luz, desenho, cenário.
Podemos dizer que “Turismo Infinito” é o lado B de “Fausto. Fernando. Fragmentos” (1998), a sua primeira incursão pelo universo de Pessoa?
“Fausto” era fragmentos. Houve ali um grande exercício dramatúrgico, tentando fazer de novo a partir de uma coisa que era, por um lado, uma espécie de grande metáfora, e por outro, uma espécie de grande enredo sem sentido. Pode dizer-se o mesmo de “Turismo”, mas de forma muito menos ostensiva.
“É impossível um criador não ter pensamento politizado. principalmente num país como o nosso”
Em “Turismo Infinito”, António M. Feijó trabalha sobre os heterónimos de Pessoa.
Sobre algumas virtualidades de Pessoa. Do Pessoa ortónimo, que aqui é muito importante. Entram as cartas de Ofélia, embora manipuladas pelo António de maneira curiosa, para permitir que Álvaro de Campos entre na narração. E portanto, de alguma forma, para ir à procura de uns segredos de Pessoa. É uma síntese de determinadas visões do Feijó sobre Pessoa. Exclui o Ricardo Reis, por exemplo, o que não é pouco. E inclui Álvaro de Campos, porque é mais espetacular, epigráfico, bonito e muito especial.
Definiu “Turismo” como um “espetáculo hipnótico”. Ainda é por causa da palavra?
É. A palavra mais do que outra coisa. Não trabalho sobre textos, trabalho a partir de textos. Para chegar à palavra. O que me interessa é o dizer. Trabalho mais sobre o que se vai ouvir do que sobre o que se lê.
E diz trabalhar pouco sobre a atualidade. “Oleanna”, de 2019, foi uma exceção?Não necessariamente. “Magic Afternoon”, nos anos 70, era sobre a relação entre a droga, a cultura e o sexo. Só que era outro estilo. “Oleanna” poderia factualmente ter acontecido. Da primeira vez que a vi, não a percebi bem. A ideia de assédio, 20 anos depois da peça, está mais desenvolta, há mais teoria e mais especulação. Com o #metoo, comecei a pensar que devia reler a peça. Lembro-me de pensar que não sabia pôr o dedo na ferida. Mas ninguém sabe. É um dos segredos da peça. É difícil tomar partido. É uma questão complexa que vai ter a muita coisa outra da vida.
Um criador pode não ter pensamento politizado?
É impossível um cidadão não o ter. Principalmente num país como o nosso. Uma pessoa exila-se seis ou sete anos em Inglaterra para não fazer a guerra colonial, porque não suporta mais a pressão aqui (não que eu fosse exilado político, era um autoexilado). Volta depois do 25 de Abril, para ver o “turn over” [reviravolta] que isto deu, e gozá-lo. E torna-se polémico em relação a tudo o que era a ortodoxia abrilista. No próprio trabalho, que não era bem aceite.
Por exemplo?
“As Cuecas. Da Vida Heroica da Burguesia” [1975] é sobre as origens da pequena burguesia que vai votar no Hitler. Na altura, um capitãozeco qualquer do MFA entendeu que não devia incluir aquilo nas campanhas de educação do povo. Obviamente, nunca é o teatro que interessa nestas coisas. Mas, a mim, o que me interessa é o teatro.
Mas não como veículo para o que quer que seja.
Exatamente. No meu caso, o teatro é veículo para outras coisas. Uma perceção, por vezes não consciencializada, das grandes dúvidas sobre si próprio: a complexidade das relações entre o mercantilismo, o dinheiro e a banca, ou a relação entre o sexo e o amor e a utopia. É o caso do “Mercado de Veneza”. Os temas dos clássicos interessam-me sempre imenso. O “Dom João”, de Molière, é um objeto de um racionalismo absurdo.
Podemos passar a vida toda a voltar aos clássicos.
Como podemos passar a vida a voltar às vanguardas. Tudo o que está a aparecer agora como sendo moderníssimo – nos Rivolis e nos CCBs e até no TNSJ – , já os conhecia dantes. Quando Sarah Kane fez estrondo na cena mundial, pensei: esta coisa do “in your face” é o que já faziam os Pip Simmons [companhia de teatro experimental fundada em Londres em 1968]. É a mesma violência, a mesma agressão ao espectador, a mesma complacência na autodestruição.

(Foto: João Tuna/TNSJ)
Que lugar há reservado no teatro para a intervenção?
Há teatro de intervenção que faz só isso. Não creio é que tenha ajudado a desenvolver a estética teatral. Nem feito aquilo que gostamos que qualquer arte faça, que é sublimar um pouco a realidade – o caso de “Oleanna” – e conseguir transformar uma experiência vivenciável ainda hoje, passados tantos anos, numa coisa que também nos inspira beleza.
É preciso salvar o teatro? Ou já não é possível?
O teatro não tem salvação em Portugal. Nunca teremos uma prática substancial o suficiente para aguentar mais do que a vida da Cornucópia, mais do que um ou outro projeto de teatro nacional. Não há suficiente matéria-prima. E os paradigmas para que trabalhámos, os da Europa sonhada, não têm nada a ver com o que acontece agora.
Saiu do TNSJ há dez anos. De quanto tempo precisou para aprender a viver fora daquela sua casa?
Talvez os cinco primeiros anos. Enquanto voltava para fazer o “Sombras” e o “al mada nada” não conseguia desligar-me daquilo que achava que estava menos bem. Não conseguia separar-me do fio autoritário sobre a estrutura. Por outro lado, sempre o exerci com a maior doçura e colaboração. Mas não conseguia explicar a mim próprio por que tinha deixado aquilo, que era ainda tão bom. Foi difícil.
Hoje já entende? Então, dizia que estava cansado.
E estava.
Em Portugal, foi a única pessoa a desempenhar simultaneamente as funções de encenador, diretor artístico e administrador. Isso fez diferença?
Hoje, os meus colegas nem sequer querem fazer parte do Conselho de Administração, o que não quer dizer que não possa existir entendimento entre administração e direção artística. Toda a gente diz que nos damos mal. Como? Como é que Luís Miguel Cintra sobreviveu com aqueles subsídios miseráveis durante 30 anos brilhantes? Aquilo é que foi o teatro nacional! Algumas pessoas têm vergonha de tocar no dinheiro, acham que devem distribuir tudo aos pobrezinhos, que toda a gente tem que ter uma oportunidade porque somos diretores do Teatro e não estamos lá de boa consciência. Nunca tenho problemas com dinheiro. E não era muito. Era mais do que agora, claro. O orçamento foi caindo. É uma vergonha para uma casa que deu as provas que deu.
Mas que diferença faz integrar a administração?
Se não estivermos lá, não podemos dizer as coisas que disse, nem dar os recados que dei em todos aqueles textos, muitos dos quais vão aparecer no livro “Despesas de Representação”, do Pedro Sobrado.
Quando olha para si, vê o quê?
Não tenho a certeza se sou um homem do teatro, se sou um homem do espetáculo. Não sou um automático criador de grandes repertórios. Sempre fiz aquilo que sentia que devia fazer como encenador. Ao mesmo tempo, cumpri a missão consignada no Teatro Nacional: dar prioridade ao repertório moderno, contemporâneo. Fiz e distribuí isso sempre – não às pessoas que apareciam com um autor xpto, mas às pessoas que entendia que deviam ter um projeto que lhes coubesse. Ou quando um projeto vinha ao encontro da pluralidade genuína radical de um projeto teatral. Hoje não tenho um projeto teatral. Estou na minha autoprateleira. E não quero noutro sítio.
O que é que isso quer dizer?
Quer dizer que não estou à espera de nada, primeiro. E também não estou à procura de nada.
E também não está disponível para nada?
É autoprateleira, portanto posso estar disponível. Refiro-me estritamente a projetos artísticos.
É contra o emagrecimento das carreiras no teatro. É responsabilidade que deve imputar-se a quem?
A quem está acima. O abaixamento do financiamento teatral trouxe o abaixamento da qualidade teatral. O que se paga hoje a um ator ou a um encenador é vergonhoso comparado com o que se pagava há 20 anos. Não se pode viver com o que se ganha no teatro.
Há uns anos, fazia a distinção entre subsidiar a cultura e financiar a cultura. Passaram dez anos, 20 anos, e o país continua a discutir a mesma coisa.
Sempre. E é sempre a malta do teatro independente que vem fazer a contestação.

(Foto: António Lagarto)
Também dizia que não se sentia obrigado a cumprir uma quota programando autores portugueses. Da mesma maneira, um teatro municipal, um Viriato (Viseu), um Rivoli (Porto), ou outro, deve ter essa obrigação de programar todos os independentes?
Já não sei o que é hoje um teatro nacional. A autoridade sobre o palco, outro dos traços ditos de Ricardo Pais, sempre foi uma coisa absolutamente indispensável. Tem como papel ir reforçando o tecido educacional, criativo. Não sei se o Teatro Municipal consegue fazer isso. Ainda estou para ver quem são os emergentes do Rivoli e do Campo Alegre. E ver se crescem como cresceram connosco o Nuno Cardoso ou o Nuno M. Cardoso. Um teatro não precisa de ser moderno ou espampanante, só precisa de ser adulto.
O que deve distinguir um teatro nacional de um municipal, nas suas competências essenciais?
Em países civilizados, onde os políticos não são barbaramente incultos, como aqui, e onde os munícipes são minimamente capazes, essas questões não se põem. Trata-se de encontrar protagonistas, que é muito diferente. E os protagonistas têm um projeto próprio. Nos teatros nacionais e regionais em França, por exemplo, quando se convida uma pessoa para dirigir, é para fazer o seu trabalho. Isto é, não só programar, mas programar à volta e em consenso com o seu próprio trabalho como criador. Isso é o que acontece lá. Aqui, como nada está estruturado, um diretor artístico pode fazer o seu trabalho, desde que consiga olear a máquina e entender-se com o Governo. O contributo, seja dos teatros nacionais, seja dos municipais, deve ser sempre para a criação, sedimentação das práticas artísticas locais, e conhecimento e esclarecimento dos públicos. Isso pode fazer-se de muitas maneiras. O Viriato nasceu comigo a trabalhar em Viseu. Foi a primeira parceria público-privada que se fez.
Revolucionou Viseu com um modelo que ainda sobrevive. Depois, fez o mesmo no Porto, num teatro nacional. Pelo meio, passou por Coimbra. Estranhamente, hoje parece tudo mais difícil.
Não acho que o TNSJ esteja a padecer de alguma coisa. Mas conheço bem o Nuno Cardoso. E o Pedro Sobrado é um colaborador de primeiríssima água. Tenho esperança de que consigam manter o projeto, atido ao seu próprio prestígio, o que quer que isso queira dizer.
O Ricardo fundou uma escola de atores…
… pode dizer-se que sim.
… e o TNSJ tem um público fiel. Pode falar-se de uma escola de teatro do Porto no mesmo sentido em que se fala de uma escola de arquitetura?
Seguramente. Até eu cá estar, podia. Daí para a frente, não sei dizer.
“Se se falar de teatro dos séculos XX e XXI, vai falar-se de mim? Talvez. Mas também vai falar-se de gente medíocre”
O Ricardo é o Álvaro Siza?
Credo! Não! De maneira nenhuma. O Siza é um artista planetário. Sou um artesão ao pé do Siza.
Quem pensa hoje sobre política cultural no país?
Ninguém. A não ser o Manuel Maria Carrilho.
Que também está na sua autoprateleira, para usar a sua terminologia.
Não. Ele está enterrado vivo, que é muito pior.
Depois de Manuel Maria Carrilho, ministro de Guterres, respeitou mais algum ministro da Cultura?
Não desrespeitei. Mas também não respeitei. Houve pessoas gentis, muito educadas e lidas e sabidas. Estou a lembrar-me de Pedro Roseta e de José Amaral Lopes. Isabel Pires de Lima, claro. Ou Mário Vieira de Carvalho. Eram muito respeitadores. Mas nunca houve nada de inovador ou de profícuo. Não acho que haver um ministério [em vez de uma secretaria de Estado] tenha qualquer peso. Não há produção ideológica possível, porque as ideologias não estão na moda. O que está na moda é a proliferação de ecrãs, e este absurdo de que a comunicação é tudo. Uma espécie de arte do esquecimento.
Sempre foi muito crítico dos comentadores. Pergunto-me o que achará agora deste tempo em que cada um de nós foi convertido num potencial comentador. É possível alguma coisa nivelada por cima sobreviver a isto, ao instantâneo, ao descartável?
Ou os protagonistas teatrais, das artes cénicas em geral, são pessoas seguros de si, e o seu discurso artístico é absolutamente incontornável, ou é complicado. Estou a lembrar-me do Paulo Ribeiro e da Olga Roriz, por exemplo. Conseguiram fazer carreiras internacionais fantásticas. Eles são protagonistas.
Mas o Ricardo também é, nesse sentido, protagonista. Como pode querer demitir-se disso?
Sinto que tenho essa propensão [para ser protagonista], por natureza das coisas. Porque fui funcionário do Ministério da Cultura, porque ensinei durante muitos anos numa escola… Mas se tivesse que zelar por alguma coisa, ia zelar onde? E como? A não ser tendo a oportunidade de fazer um ou outro espetáculo que, apesar de tudo, continue a criar alguma referência a alguém?
Não creio que possa queixar-se. Nunca se falou tanto de uma obra sua como de “Oleanna”.
É verdade. E era uma coisa pequena. Às vezes, tenho tendência a ver-me um bocadinho…
… desfocado?
Desfocado. Mas essa desfocagem não é necessariamente má. É uma forma de recolha, também. Não quero perder tempo com batalhas que sei que não se vão ganhar, a não ser que surjam protagonistas novos – como Tiago Rodrigues em Lisboa, e Nuno Cardoso no Porto – que consigam impor, através do seu discurso teatral, uma boa imagem do trabalho, que seja integrável na política cultural… não havendo política cultural. Repito, faltam protagonistas. Mas o espaço para os protagonistas é cada vez mais pequeno, porque só há dois ou três sítios onde as coisas se fazem com continuidade. Entrou-se nesta folia de distribuir muito, e isso já não tem nada que ver com a solidificação dos valores essenciais que quase íamos conseguindo. E que não tenho a certeza que estejam tão solidificados como se pensa.
Há senadores na Cultura? O Ricardo é um?
Detestaria sê-lo conscientemente. Mas acabo por parecê-lo porque me fazem as perguntas que está a fazer-me. Preferia ser um artista mais recolhido.
O que é isso de ser um artista do recato?
É não ter outras responsabilidades que não as de fazer um espetáculo bem. Ou dar um seminário bem. No fundo, o que sempre é sacrificado aqui é o trabalho de autor. Mas também não tenho muita pena disso. Tento estar apaziguado na minha estase.
Um artista nunca se reforma, pois não?
Não, isso não. Mas cada vez me estimulam menos coisas. “Monsanto”, que vou trabalhar no fim do ano, é um projeto lindíssimo, de cruzamento entre várias narrativas. E tem um elenco de luxo. É o tipo de coisa que pouca gente consegue fazer com tanta agilidade como eu. “Foi Deus”, como diria a Amália.

(Foto: Pedro Lobo)
A peça “Turismo Infinito” foi escolhida pelo TNSJ para assinalar o início da celebração do centenário do edifício de Marques da Silva
(Foto: Pedro Lobo)
Que lugar reserva para si na história do país?
Nunca pensei ter um lugar na História. Esquece-se com uma facilidade fantástica, tudo. Aqui, como em qualquer lado. Mas aqui, principalmente. O país tem facilidade enorme de deixar ir. Se se falar de teatro dos séculos XX e XXI, vai falar-se de mim? Talvez. Mas também vai falar-se de gente medíocre. Por isso, não sei o que é isso de ficar na História.
É ser reconhecido por uma identidade forte, pelo conjunto da obra, e pelo que nela houve de inovador. Como Bob Wilson, de quem gosta tanto, ou como Laurie Anderson, de quem fala tantas vezes.
Qualquer um deles tem uma obra infinitamente mais planetária do que a minha. A Laurie Anderson é o amor da minha vida. Vi-a muito antes de ela ter feito “O Superman” (1981), em Londres. E muito antes de saberem quem era. Ela veio ao TNSJ em 2005 e viu o “UBUs”. O Bob Wilson já não é um criador, é uma marca. Tenho 50 espetáculos, ele tem 200. Nunca podemos comparar-nos. O “Le Regard du Sourd”, em Paris, em 1967, estourou com tudo. Todos falavam daquilo, até Sartre. Nunca tive esse “breakthrough”, e criei muitos para muita gente. Nunca fui oportunista. Podia ter usado o TNSJ como uma catapulta para uma coisa gigante, e nunca o fiz.
O futuro provoca-lhe alguma ansiedade, no bom sentido? Ou fica perdido entre o que parece ser uma agressividade e um individualismo crescentes?
Não estou na melhor altura da vida para responder. Mas isto está muito conturbado com a digitalização. Manuel Maria Carrilho tem uma expressão que traduz isso muito bem, no seu livro “Ser Contemporâneo do Seu Tempo. Diálogo com José Jorge Letria”: “A grande pergunta que se põe é: como é que a liberdade individual e a impotência coletiva aumentam ao mesmo tempo?”