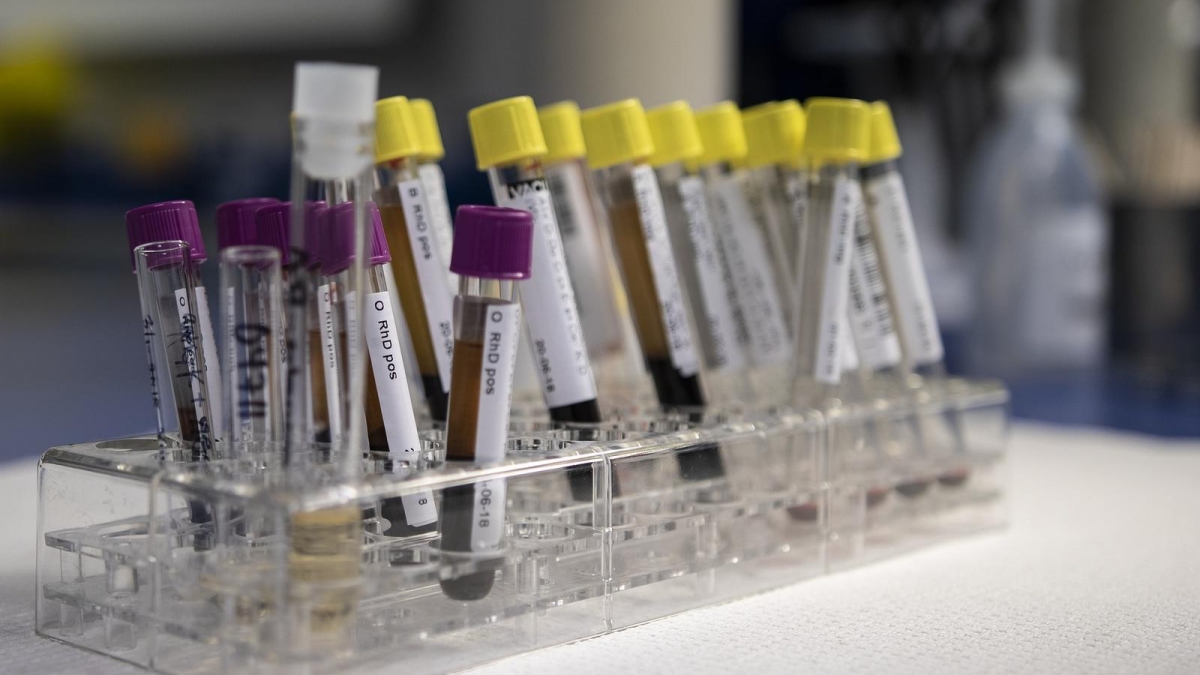
Texto Sara Dias Oliveira
A medula óssea é a nossa fábrica do sangue. O órgão onde são fabricados os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Responsabilidade tremenda sem um milésimo de segundo de descanso. O problema é quando a sua missão não é desempenhada na plenitude. E quando é preciso substituir a medula, é necessário falar de transplantação.
“Um transplante de medula é a substituição da medula de um doente pela medula de um dador. Em termos simples, começamos por destruir a medula do doente com recurso a doses elevadas de quimioterapia ou de radioterapia e prosseguimos pela infusão da medula de um dador compatível. Por fim, esperamos pela recuperação da nova medula”, explica à NM Nuno Miranda, hematologista da Unidade de Transplante de Medula Óssea do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa.
As doenças aparecem e os transplantes são feitos num grupo muito variado de maleitas. O maior número de transplantes é realizado a doentes com leucemias, em particular as de pior prognóstico, em que as probabilidades de cura sem transplante são muito reduzidas. Há transplantes para outros tipos de doenças oncológicas, nomeadamente linfomas e mielomas. Além disso, são feitos transplantes em doenças em que a medula é pouco eficiente, como nas aplasias medulares e em vários tipos de doenças genéticas.
Em Portugal, o primeiro transplante de medula óssea foi realizado no Centro de Lisboa do Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil, em 1987.
Transplantar significa encontrar uma medula compatível. Segundo Nuno Miranda, a procura de um dador compatível é um problema parcialmente resolvido. “As famílias são cada vez mais pequenas, com menos irmãos, o que reduz a possibilidade de se ter um dador familiar. Ao mesmo tempo, o crescimento dos bancos de dadores, como é o caso do português, tem vindo a permitir transplantar um número maior de doentes, podendo mesmo afirmar que a maioria dos transplantes hoje realizados na nossa unidade utiliza dadores não familiares”, refere.
Outra possibilidade é a utilização de células de sangue de cordão de bancos públicos, com maior utilidade em doentes pediátricos. Hoje em dia utiliza-se, cada vez mais, doentes familiares apenas parcialmente compatíveis. Mesmo assim, há alguns doentes sem dador compatível.
“Num ato de grande generosidade, milhões de pessoas pelo mundo fora disponibilizam-se para fazer uma doação de medula óssea para uma pessoa completamente estranha, permitindo salvar muitas vidas”, refere o hematologista Nuno Miranda, do IPO de Lisboa.
“Cada vez mais transplantamos doentes de maior risco. Ao longo dos últimos anos temos admitido doentes cada vez mais velhos e com pior condição clínica. Isto com obtenção de resultados semelhantes, pela utilização de transplantes menos tóxicos e mais inteligentes. Só é possível responder a essa questão perante cada doente individual”, adianta o hematologista.
É possível ter uma vida normal depois de um transplante? Tudo indica que sim. “Muitos doentes retomam uma vida normal, visitando-nos apenas uma vez por ano. O maior risco para os doentes transplantados continua a ser a doença por que foram transplantados e a possibilidade da mesma voltar”, responde Nuno Miranda.
De qualquer forma, um transplante continua a ser um procedimento de alto risco, com efeitos secundários bastante significativos e, por isso, não pode ser encarado de uma forma leve. Imediatamente a seguir ao transplante, em que normalmente o doente está internado, segue-se um período de vigilância apertada, habitualmente de seis meses, em que o doente necessita de ir ao hospital pelo menos duas vezes por semana. “Se tudo correr bem, as consultas vão sendo espaçadas e as restrições do doente vão sendo levantadas”.

















