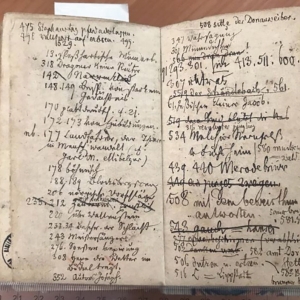Não tenho memória curta. E mesmo que tivesse, ela também dava para abarcar as imagens que retenho de Lisboa e do Porto há uns – poucos – anos. Gosto de cidades e de passear nelas. Descobri o prazer de fazer em Lisboa – e no Porto – o que normalmente os turistas fazem nas cidades que visitam: palmilhar quilómetros, percorrer vielas, visitar bairros e beber cafés em tascas, entrar por portas entreabertas, espreitar escadas e miradouros.
Fi-lo, em Lisboa, quando comecei a trabalhar, tinha tempo para ir à procura de histórias, não havia internet nem esta exigência de instantaneidade, as histórias e as notícias podiam ficar em segredo o tempo que quiséssemos que ficassem. Depois, no Porto, sempre que o visitava.
Foi assim que soube das vilas operárias de Lisboa, lindos monumentos àquilo que as cidades foram no século XIX, e dos que, já não sendo operários, as ocupavam, abrindo portas a forasteiros que queriam delas saber. Soube das ruas estreitas e a descer a pique, onde, no Porto, os imigrantes chineses e indianos faziam comércio por atacado e nos mostravam um cosmopolitismo que escapava às chiques ruas da baixa. Soube de vistas fantásticas escondidas por portões que rangiam a abrir, e ruas que se transformavam em largos, e becos que davam para jardins.
Foi a enorme desigualdade de circunstâncias – entre a pobreza que grassava nos centros das nossas cidades e a riqueza que os turistas e o turismo traziam – que deu origem aos desequilíbrios que hoje todos sentimos.
Mais de noventa por centos das vezes, posso dizer com certeza, o meu coração passeava apertado por onde minhas vistas se deleitavam. Porque entre o que eu sentia e o que eu via havia um hiato: via tesouros, vários, arquitetónicos, culturais, enfim, urbanos, e sentia o desleixo, o abandono a que a maior parte estavam votados.
Em Lisboa, em Alfama, percorri vielas e largos em que estive muitas vezes sozinha, quase com medo, com as casas à minha volta a esboroarem-se. Literalmente. As casas, nas ruas mais estreitas, não era raro estarem suportadas por ferros e andaimes que afastavam as paredes de um prédio do outro em frente.
Na verdade não era só o coração que sentia – muito deste abandono era visível a olho nu. Já para não falar das casas desabitadas, das vistas ocupadas com parques de estacionamento, das lojas decrépitas e sem gente, lojas cujos donos viviam do desespero de não conseguir fazer mais nada, ou sair dali para fora.
Como dizia no início, isto não acontecia na pré-história das duas grandes cidades portuguesas. Isto acontecia há 20 anos, e continuou a acontecer até há uns cinco. Os centros a degradar-se, a ficar sem gente, as rendas a descer e a deixar senhorios sem capacidade para fazer obras. E com poucos a já quererem viver nestes lugares que se degradavam, tantas vezes entregues à delinquência.
Ninguém se engane, foi este ambiente que antecedeu a ocupação pelos turistas – nas cidades, como na política, sabemos qual a tendência do vazio. E foi precisamente a enorme desigualdade de circunstâncias – entre a pobreza que grassava nos centros das nossas cidades e a riqueza que os turistas e o turismo traziam – que deu origem aos desequilíbrios que hoje todos sentimos. A Baixa cheia, a Ribeira atafulhada, as velhas lojas substituídas por coisas com nomes em inglês.
O movimento foi mais fácil, cá, do que noutros países onde havia populações ricas disponíveis para «financiar» os grandes centros urbanos. Não vale a pena culpar os turistas. Vale a pena aproveitá-los. E, como em todos os desequilíbrios, intervir para repor alguma normalidade.