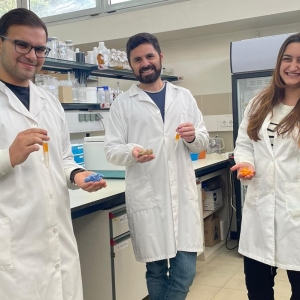A Grande Maçã
Rubrica "A vida como ela é", de Margarida Rebelo Pinto.
Vou ver como está a América. Na verdade, vou ver como está a Grande Maçã, que é apenas uma pequena parte, mais turística do que representativa da realidade norte-americana. A primeira vez que visitei Nova Iorque ainda era perigoso andar de metro depois de escurecer, o Lower East Side era um gueto hispânico de cortar à faca, o Plaza ainda era um hotel e as carruagens do metro estavam grafitadas de cima a baixo. Por inexperiência, fiquei num hotel barato com lençóis sujos, habitados por pulgas. Numa varanda de pedra fechada aos hóspedes, ouvia-se o ruído de objetos abandonados que dançavam ao sabor do vento, entre os quais se contavam seringas e preservativos. Como é clássico nestes antros, tentaram entrar no quarto a meio da noite. Felizmente não estava sozinha, acredito que me teria gelado o sangue se estivesse.
Uma década depois voltei e deparei-me com uma cidade nova: as ruas limpas e seguras, o metro com carruagens a brilhar. A Grande Maçã parecia intacta, livre de pragas e de desgraças. O índice de crime descera drasticamente e Brooklyn começava a estar na moda. Fui a um casamento celebrado a meio da ponte de Brooklyn e ao fim da tarde gostava de me sentar perto da saída das Twin Towers só para ver aquele imenso mar de gente, como quem observa o movimento de um imenso aquário, poucos anos antes dos atentados de 11 de Setembro. Quando voltei na década seguinte, as imagens da Torre Gémeas já só constavam nos filmes e nas séries do século passado. Decidi, influenciada pela moda de então, instalar-me no Standard Hotel, de quem toda a gente dizia maravilhas. Fiquei lá dois dias. O quarto totalmente envidraçado, bem como a casa de banho, e um maleiro com 1,90 metros que parecia saído de uma campanha da Abercrombie & Fitch, com um ego maior do que o meu, desanimaram-me. Andei de helicóptero, revisitei o Metropolitan, fui ao Blue Note e ao Village Vanguard, vi dois musicais, palmilhei armazéns ruas e avenidas, voltei a Brooklyn e vim de lá cheia de energia.
Não sei ao certo quantas vezes já visitei a cidade que inventou os ovos Benedict, pertenço à geração que literalmente a bebeu em séries e filmes durante décadas. A imagem da terrifica metrópole que aparece em “Nova Iorque 1997” foi diluída pelas quatro amigas de “O Sexo e a Cidade” com os seus passeios, brunches, lojas e bairros preferidos. Nova Iorque parece aquela cidade onde podemos cruzar-nos com o Robert De Niro ou o Keanu Reeves em qualquer esquina, onde as sirenes nunca param, porque nunca dorme. Falta-me ir à Ópera e apanhar ao ferry para Staten Island. E falta-me sentir verdadeiramente o pulso à cidade, porque tal só é possível quando permanecemos enquanto residentes, não como turistas.
Vejo os turistas que se passeiam por Lisboa e percebo que se encantem com a cidade colorida e gaiteira, outra vez muito francesa, descoberta pelo Mundo desde 2014. Infelizmente, já não é a minha Lisboa. A profusão de idiomas escutados nas ruas deixa o português para trás, os lisboetas já não conseguem viver nos bairros onde nasceram e cresceram. Somos um pastel de nata ou um pastel de Belém, sardinhas e manjericos em junho. É o preço do progresso, ninguém sabe o quanto nos vais custar, mas vive-se cada vez mais como um sonho que se está a perder. Veremos como está o sonho americano.