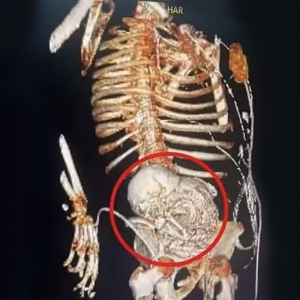Na semana do Dia Internacional da Mulher, cinco histórias que se conjugam no feminino. Cinco mulheres e diferentes áreas e distintas origens que vingaram pela liderança e pelo exemplo em território adverso. Há quem tenha perdido o nome, a filha e a liberdade para lutar por um país diferente e justo, há quem tenha recusado a segurança de uma vida de mulher burguesa, dona do lar, quando a sociedade a empurrava para esse fim, há quem tenha conquistado Silicon Valley tendo como ponto de partida uma pequena aldeia em Fátima.
A Organização das Nações Unidas (ONU) apenas reconheceu o dia internacional da mulher em 1975, já a data era assinalada há várias décadas. E antes? Bem, antes foram dados muitos passos. Alguns de salto alto. Senhoras de família do reinado do imperador romano Augusto (63 a.C.-14 d.C.), por exemplo, inscreveram-se como prostitutas para amarem livremente, sem incorrerem em sanções; Charlotte Corday degolou Jean-Paul Marat em nome da paz, da união e da fraternidade durante a Revolução Francesa; a escritora inglesa Mary Wollstonecraft tornou-se pioneira da defesa do voto feminino a partir de 1792; Domitília Carvalho foi a primeira mulher a frequentar a Universidade de Coimbra (1871-1966); cientistas negras da NASA puseram o homem a orbitar em torno da Terra; a ceifeira Catarina Eufémia foi assassinada no Alentejo por pedir mais dois escudos por jorna.
Todas, ao longo dos séculos, tricotaram (esse gesto tão feminino) a grande manta da história dos direitos das mulheres. O direito à igualdade de remuneração foi reconhecido internacionalmente em 1919, mas um século volvido ainda não é respeitado.
Uma mulher de 30 anos que hoje seja mãe de uma mulher, que virá futuramente a ser mãe de outra mulher, terá alguma probabilidade em tornar-se a pentavó da primeira geração feminina que nascerá num mundo totalmente igualitário do ponto de vista salarial.
A máxima «trabalho igual salário igual» está, assim, a quatro gerações de ser cumprida na plenitude. A igualdade de género em termos económicos só deverá ser atingida dentro de 170 anos, revela um dos mais recentes estudos do Fórum Económico Mundial (outubro de 2016). Um retrocesso em relação aos 118 previstos em 2015.
Em Portugal, a diferença salarial entre homens e mulheres fica-se pelos 14,9%. No conjunto da União Europeia, a média de intervalo é ainda maior: 16,7%. Mas se recuarmos sessenta anos, quando o trabalho feminino representava a desagregação das famílias e o declínio moral e entraria em concorrência com a força de trabalho masculina, no entender do regime do Estado Novo, as disparidades salariais ultrapassavam em alguns casos os cem por cento.
Em As Mulheres do Meu País (1948), Maria Lamas descreveu algumas assimetrias da metade do século passado. jornalista e ativista feminista percorreu o Portugal do Estado Novo de autocarro, carroça e no dorso de burros e denunciou o que viu num livro organizado em função das ocupações femininas à época: a camponesa, a mulher da beira-mar, a intelectual, a operária, a mulher doméstica.
Numa oficina no interior de Portugal, onde os operários estavam de pé, ao torno, trabalhavam quinze mulheres e um homem. Uma tarefa violenta pela qual as trabalhadoras recebiam dezoito escudos diários e o único homem trinta e dois. O episódio do final da década de quarenta é um dos exemplos descritos por esta mulher que chegou a estar presa e foi obrigada a viver no exílio.
Depois do 25 de Abril de 1974 foram ultrapassadas barreiras ancestrais, como o direito universal ao voto (algumas mulheres já podiam votar), mas persistem desigualdades que importa corrigir, sobretudo no acesso a algumas posições de chefia na administração pública, empresas privadas, titulares de cargos políticos e a nível salarial. Os dados da Comissão para Igualdade no Trabalho e no Emprego mostram que 59% das pessoas diplomadas com ensino superior e 54,8% das pessoas doutoradas são mulheres.
No entanto, 87% dos lugares de membros dos conselhos de administração das 17 maiores empresas cotadas em bolsa são ocupados por homens. E, olhando para o universo das quinhentas maiores empresas do país, apenas 8,3% são lideradas por mulheres. A proposta de 33% de mulheres nos conselhos de administração de todas as empresas (começando pelas públicas) está, neste momento, em análise na Assembleia da República. Talvez um dia cheguemos aos cinquenta por cento. Sem ser preciso que a lei o estipule.
LÍDER ENTRE OPERÁRIOS
Em 1928 foi iniciada a construção do Arsenal do Alfeite, em Almada, financiada pelas indemnizações alemãs da Primeira Guerra Mundial, após a assinatura do acordo de Versalhes. Um dos melhores e mais bem apetrechados estaleiros para construção, reparação e manutenção naval da Europa.
Foi preciso avançar até 2015 para que as oficinas de engenharia fossem percorridas pelos saltos altos da primeira mulher presidente desta instituição quase centenária. E Andreia Ventura, que já se sente arsenalista, fez questão de conhecer os cantos à casa – ou melhor, os 36 hectares de propriedade à beira Tejo, tendo como vizinhas as fardas da Marinha Portuguesa.
Vai abrindo caminho à frente, entre ferrugem, ferro e soldadura. O vestido preto é recortado por Lisboa, na outra margem. Mexe-se à sombra de uma fragata, mais de cem metros de comprimento, mas não se sente ensombrada pelo léxico do dia-a-dia entre navios. «Fragatas, corvetas, lanchas, submarinos, lanchas salva-vidas, navios de patrulha oceânica e navios de patrulha costeira», enumera com facilidade, apontando alguns em espera para reparação. Contornamos a doca seca, acena a um operário numa pasteleira. «Boa tarde, doutora. » Andreia não veio ao engano, sabia que ia liderar uma instituição marcadamente masculina.
Os números falam por si: 510 trabalhadores, entre operários navais e engenheiros, apenas trinta senhoras. E é «senhora» a palavra escolhida por Andreia, não «mulher». Apanhados de surpresa parecem ter sido os operários das oficinas, visitados nos primeiros dias da recente administração. «Nunca tinham tido uma mulher a liderar a empresa. Quando cheguei deparei-me com alguns calendários típicos de ambiente de oficina», conta divertida.
Acabaram por desaparecer sem que tivesse de ser feita qualquer recomendação e toda a gente rapidamente se adaptou ao novo estilo de liderança. «O meu gabinete deixou de ter restrições de acesso, deixaram de ter de falar com o superior ou com os recursos humanos para serem ouvidos por mim. O edifício da administração é de acesso franco.» Na história de Andreia, que tem agora 41 anos, há, como nas boas histórias, decisões feitas por amor.
Licenciada em Direito pela Universidade Católica, tem a inscrição na Ordem dos Advogados suspensa voluntariamente por incompatibilidade de funções. Mas foi num escritório de advogados que iniciou a carreira, interrompida por um pedido de casamento. «Apaixonei-me por um colega, atualmente meu marido, e havia uma regra que impedia relações amorosas dentro do escritório. Um teria de sair.» Foi ela, apresentando uma carta de demissão com via verde para o desemprego.
«Foi uma sensação horrorosa quando me vi sem trabalho, mas foi tudo muito rápido e acabei por aceitar uma proposta para o Ministério da Justiça.» Antes dos 30 anos já era assessora da então secretária de Estado dos Transportes, atual ministra do Mar, Ana Paula Vitorino. No gabinete, participou na definição das opções estratégicas para o setor marítimo e portuário. Conhecimentos que utilizou mais tarde na Administração do Porto de Lisboa, onde coabitou com três governos distintos e pôs em prática uma das caraterísticas que reconhece na liderança feminina: a capacidade de criar consensos.
FINALMENTE, MARGARIDA
As casas ainda estão vestidas de Natal e uma mulher espera junto a uma cabine telefónica em Belém, Lisboa, com um saco na mão. No interior, pijama, escova de dentes, um desenho de uma filha para um pai que julga preso pela polícia política. A mulher é interpelada. Fica a saber que o marido está morto e que não lhe poderá velar o corpo porque o funeral fora nessa manhã. Estamos em 1962, há cheiro a rabanadas na rua, Portugal salazarista tinha perdido Goa, o regime fora humilhado pela fuga de Peniche de Cunhal, a guerra do Ultramar já ceifava vidas e a PIDE atirava a matar.
Margarida Tengarrinha, agora com 89 anos, tinha 34 quando ficou viúva do dirigente comunista e artista plástico José Dias Coelho. Com uma filha de 2 pela mão, não vestiu a pele do sofrimento. Abandonou a casa clandestina onde vivia, com a próxima tarefa estipulada: pôr de pé uma oficina de falsificações de passaportes para que outros pudessem dar o salto e fugir à morte.
Antes disso tinha sido menina burguesa do Algarve, filha do gestor do Banco de Portugal de Portimão, com criadas para todo o serviço. Já à época com liberdades invulgares, andava de calças compridas e percorria o barlavento com o pai a pintar. «Comecei muito nova a brincar com as artes. O meu pai era o meu mentor artístico e provavelmente sentia-se frustrado por não ter seguido o seu sonho.» Rumou a Lisboa. A escolha de belas-artes provocou apreensão na mãe católica – «uma menina a desenhar nus?» – e mereceu apadrinhamento paterno. Mas antes de terminar o curso deu-se o afastamento entre pai e filha. Uma relação nunca inteiramente reatada.
A torneira financeira do pai fechou quando Margarida foi expulsa da faculdade. Entre cavaletes, conheceu Dias Coelho, acabado de sair da prisão. E ambos fizeram «uma luta brutal pela paz quando a NATO reuniu pela primeira vez em Lisboa», colocando cartazes no elevador de Santa Justa.
Até que chegou o dia da pergunta derradeira. O revolucionário quis saber se a menina burguesa seria capaz de passar à clandestinidade, nessa altura já com a primeira filha do casal. Durante seis anos colocaram o jeito artístico ao serviço das falsificações e da paginação do jornal Avante!. Perdeu o nome, só voltou a ser Margarida quando os cravos saíram à rua. Mas perder o nome não faz mossa, quando se está à beira de se perder uma filha. Teresa viveu em casas clandestinas com os pais até aos 5 anos, sem poder contactar com outras crianças, imitava o que via e passava os dias a pintar.
Foi traída pela habilidade para o desenho ao exibir a uma vizinha «uma cópia de uma maquete com a foice e o martelo e Avante muito bem escrito». Margarida despediu-se da primeira filha já com a segunda na barriga, só a voltaria a ver 11 anos e meio depois.
O assassínio de Dias Coelho deu a Zeca Afonso os vibratos da dor em A Morte Saiu à Rua e a Margarida a urgência de sair do país. Trabalhou com Álvaro Cunhal em Moscovo, deu o salto com a filha Guidinha ao colo, adormecida para não chorar. Voltou no final dos anos sessenta e casou-se novamente. O 25 de Abril devolveu-lhe as filhas e o nome – finalmente, Margarida –, permitiu-lhe concluir o curso de Belas-Artes. Passou pela Assembleia da República e radicou-se em Portimão, onde ainda desenha vendo a Praia da Rocha pela janela.
DE FÁTIMA A UNICÓRNIO
As estatísticas garantem que é mais fácil sobreviver a um acidente de aviação do que criar uma startup de sucesso, mas a vida de Catarina Fonseca tem sido marcada pela improbabilidade.
Ainda não tem 30 anos mas já é cofundadora da Talkdesk, apontada pela revista Forbes como um próximo «unicórnio», o ambicionado patamar de valorização de mil milhões de dólares (940 milhões de euros). Ela também está sob radar e conquistou uma posição na lista das trinta pessoas com menos de 30 anos que vão dar nas vistas mundialmente na área das novas tecnologias.
Como é que isto se faz? Como é que uma rapariga de uma aldeia perto de Fátima, onde não havia crianças com quem brincar e a solidão a atirava para os livros, conquista a poderosa Silicon Valley? Se a vissem descer a alameda do Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa, de vestido solto, passo apressado, sorriso a aflorar, seriam embalados na ilusão da facilidade. Puro engano.
«Trabalhei 16 horas por dia, fazia dois turnos, o europeu e o americano, levava o computador para jantares e a minha mãe achava que eu vivia num hotel.» Isto numa altura em que a empresa passou de trinta funcionários para 150 num ano.
A mais velha de três irmãos «de uma família humilde», era uma estudante brilhante, mas acabou por entrar num curso onde a média se ficava pelos 12 valores. Optou por Engenharia, Telecomunicações e Informática no IST. O nome da licenciatura, profundamente masculina, parecia uma língua desconhecida para a mãe, que tecia tapetes e mantas no tear enquanto tomava conta dos filhos, ou para o pai, que durante anos teve uma empresa de construção civil. Porém, sem saberem, tiveram influência na decisão da filha. «O meu pai é uma pessoa muito hands on», é assim que Cristina fala, com o discurso em português mesclado de expressões do ecossistema empreendedor. «Um dos hobbies dele é montar e desmontar carros, dele herdei o gosto pela engenharia e pela lógica.»
Fez o curso à primeira, no terceiro ano foi convidada para ser professora assistente e começou por fazer investigação. Teve propostas para a Portugal Telecom, conheceu pessoalmente Zeinal Bava, que lhe estendeu o tapete, foi namorada pela consultora Mckinsey e ganhou uma bolsa de doutoramento. Mas recusou todas as saídas seguras e arriscou criar a sua própria empresa com um colega de curso. Foram dois os negócios falhados antes de o esforço ser recompensado.
O que a influenciou, na altura, foi uma temporada nos cuidados intensivos, entre a vida e a morte.
Tinha 21 anos. «Não conseguia respirar, entubaram-me e quando acordei estava ligada ao ventilador.Houve uma altura em que tive a sensação de que poderia sobreviver àquilo ou não. Quando saí de lá, decidi que não iria perder tempo a fazer coisas que não queria.» E não perdeu.
A Talkdesk, conhecida por montar um call center em apenas cinco minutos, tem agora duzentas pessoas e angariou mais de 25 milhões de dólares (23 milhões de euros) de investimento em três anos de exercício. Já Cristina Fonseca é um dos rostos desse sucesso, uma mulher no competitivo e altamente masculino mundo dos negócios na área de TI. E o que é que se faz quando, aparentemente, se chega ao topo? Surpreende-se novamente. Em 2015, anunciou a saída do dia-a-dia da empresa, mantendo-se como cofundadora, e iniciou um ano sabático. «Tinha orgulho no carimbo da supermulher, com enormes prejuízos pessoais, agora tenho tempo para pensar.» E não coloca de parte a hipótese de lançar uma nova empresa em breve.
A MENINA DA FARMÁCIA
Quando nasceu na Cidade da Beira, em Moçambique, homens matavam homens na selva, e o pai, licenciado em Ciências Farmacêuticas e a cumprir o serviço militar obrigatório no Ultramar, dava apoio aos hospitais e aos feridos.
A família regressou a Lisboa quando Cristina Campos tinha 1 ano. Por isso não possui memórias, apenas fotografias, de um país que se guerreava por dentro.
É, ainda assim, uma evidência que cuidar do outro está na sua génese. Cresceu atenta ao sofrimento. Com esforço e poupança, os pais, ambos farmacêuticos, abriram a primeira farmácia à qual deram o nome de família. Foi por ali que trocou as brincadeiras por tarefas de responsabilidade que a entusiasmavam. «Passava lá muito tempo, limpava o pó aos medicamentos quando era pequena e adorava organizar as embalagens. Com o tempo comecei a conferir receitas.»
Talvez de uma forma expectável, licenciou-se em Ciências Farmacêuticas, depois de se destacar com a melhor nota na Prova Geral de Acesso do Liceu D. Filipa de Lencastre, a temida PGA que agitou o mundo estudantil na década de noventa em Portugal.
Mas ainda a meio do curso percebeu que não iria seguir as pisadas dos pais e continuar o negócio da família. «Despertei para áreas que não conhecia, nomeadamente marketing e gestão, questões mais estratégicas que eram desconhecidas porque não ouvia falar sobre elas em casa.» No final do curso riscou ainda outra saída profissional após um Erasmus em Londres, onde trabalhou em genética humana. Chegou a ser convidada para fazer o doutoramento, mas não se identificou «com a falta de tangibilidade da investigação laboratorial». Por essa altura, já namorava com o atual marido, um amor antigo, com quem teve três filhos. A indústria farmacêutica parecia ser o passo seguinte para uma mulher «orientada para resultados», mas nem tudo foram rosas.
A aluna brilhante, atual diretora-geral da Novartis Portugal e vice-presidente da Apifarma, começou a carreira como delegada de informação médica, «uma profissão nem sempre acarinhada e às vezes mal vista pelos profissionais de saúde».
«Foi uma tremenda lição de humildade que me fez a pessoa que sou hoje. Foi começar do zero e ter de reconstruir um capital de credibilidade que já tinha construído na faculdade.» De pasta na mão, a palmilhar consultórios, a lidar com rejeições e momentos de espera, desenvolveu competências soft que nenhum curso técnico lhe poderia fornecer. O que a ajudou a assumir uma posição de liderança na gigante farmacêutica suíça aos 42 anos. No caminho do sucesso, fez pausas para respirar, como um ano sabático durante o qual tirou um MBA (Master of Business Administration), e reforçou certezas.
PILAR QUE É PILAR
Foram muitas as dedicatórias de Saramago a Pilar del Río. «A Pilar, que é a minha casa; a Pilar, todos os dias; a Pilar, que não deixou que eu morresse.» Mas, conhecendo Pilar del Río, volvidos quase sete anos sobre a morte do Prémio Nobel da Literatura, trinta desde que se conheceram às quatro da tarde sob uma luz de junho, poderíamos arriscar uma outra mais óbvia, mas tão verdadeira se lhe olharmos para a biografia. Apenas: «a Pilar que é pilar», enquanto apoio, base, suporte. Enquanto alguém que cuida e está. Tem sido assim, antes, durante e depois de conhecer José.
Nasceu na Espanha franquista, a encabeçar uma fiada de 15 irmãos, numa época em que o destino mais corriqueiro para as meninas era um casamento estável e burguês. E foi um dos pilares da mãe ensombrada pela sociedade patriarcal, de vistas curtas, em que Deus era pai, filho e espírito santo e as crianças pareciam nascer sem consumação.
«A minha mãe era a coisa que mais se parece com a Virgem Maria que conheço. Quinze vezes recetáculo, mas pura virgem. Virgem absoluta.» Ser virgem, pelo menos de amor, não estava nos seus planos e cedo compreendeu que o seu destino não seria colocar-se «ao serviço de um homem», mas do homem, como pilar para os que precisavam.
Aproximou-se da religião e chegou a fazer votos. Não atraída pela versão «patriarcal, machista, reacionária, antiga, injusta, canalha e, em tantos momentos, criminosa» das instituições, mas antes por um verbo de que gosta e do qual é praticante – cuidar, que não aceita como ato de submissão.
Às imagens masculinas que povoam a Igreja, preferiu a de Santa Teresa «porque era uma dissidente no seu contexto». As mulheres que admira têm, aliás, «quase todas uma parte de dor» por estarem confinadas aos seus tempos e no entanto rebelarem-se contra eles. Como Rita Levi Montarchini, a neurologista italiana que, «para se dedicar à ciência, teve de passar situações difíceis na sua vida pessoal».
O Maio de 68 apanhou-a a entrar na idade adulta. As paixões sucederam-se. Outras ficaram pelo caminho, como a religião. Chegou a literatura, o jornalismo e a política e compreendeu que poderia lutar fora de casa contra o obscurantismo doméstico onde crescera.
Em Sevilha, foi a única mulher a fazer informação de rua nos anos setenta, mas a sociedade não estava pronta para lhe estender um tapete vermelho. «A primeira vez que pedi trabalho num órgão de comunicação recusaram porque tínhamos o período e depois ficávamos grávidas.»
Quando conheceu Saramago, em 1986, e juntos foram na peugada dos passos de Fernando Pessoa pela cidade, estava longe de saber que iria abandonar uma carreira como jornalista para ser novamente o pilar do dia-a-dia, da gestão doméstica e da máquina. Cuidou do homem e do seu talento maior. «Mas isso é revolucionário, não é submisso. Entender que a humanidade depende de alguém e que a humanidade começa em cada casa e na rua», argumenta.
Agora, na Fundação Saramago, diz-se «à disposição da sociedade» e trabalha, com juristas, na criação da Declaração dos Deveres Internacionais do Homem. É a sua última grande missão. Fazer que se cumpram os direitos, todos os direitos, constitui, para já, o primeiro dever conhecido que estabelece. Esse será o pilar dos pilares para um mundo melhor. Outros se seguirão.