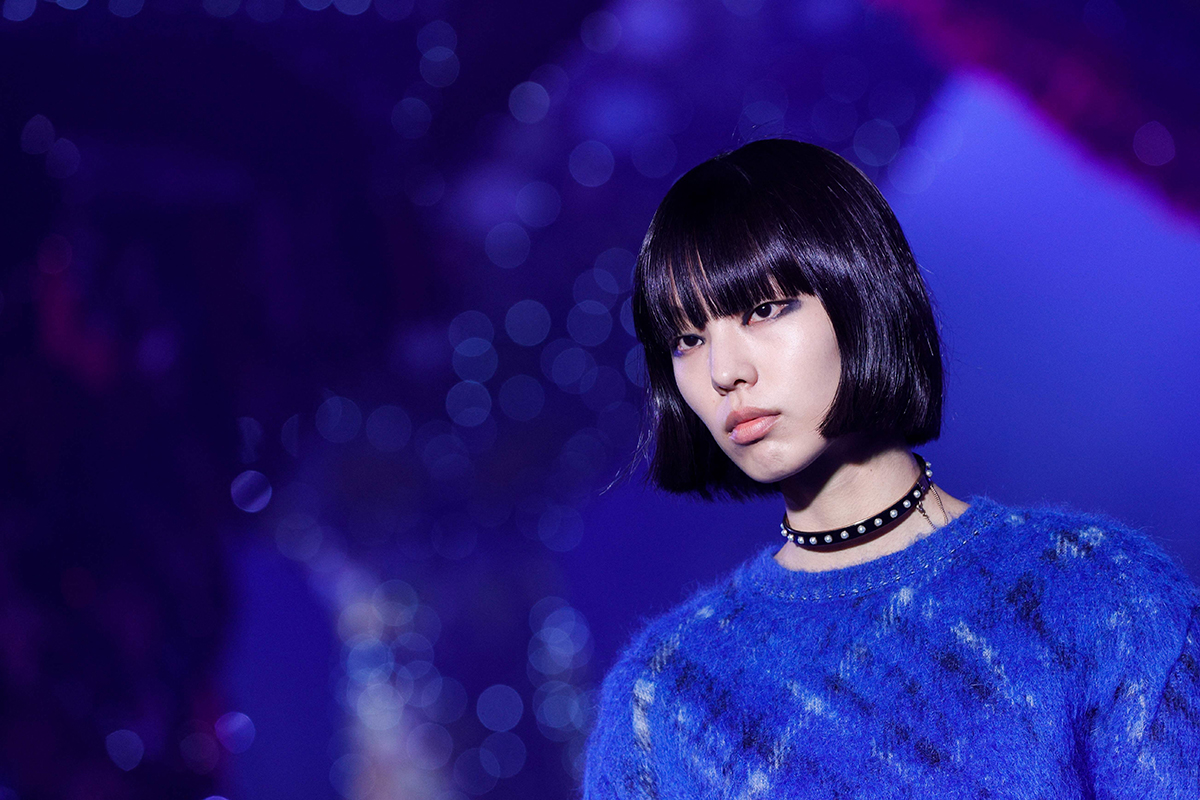Manequins que primam pela diversidade de corpos, de idades, de etnias. Coleções menos excêntricas e espampanantes, mais próximas do vestuário do quotidiano. E também mais fluidez, mais variedade. Eis o último grito das passarelas.
A evolução da moda, que é como quem diz, das tendências e valores que lhe dão vida em cada período, não se cose com linhas temporais exatas. Ainda assim, quando olhamos para o atual figurino, há um momento e um lugar a que vale a pena voltar: setembro de 2018, Semana da Moda de Nova Iorque. Rihanna, a aclamada diva da pop, apresenta a coleção da linha de lingerie Savage x Fenty e o alvoroço instala-se. Na passarela, há bailarinas e manequins consagradas, mas também modelos plus-size, diversidade de etnias e corpos, até duas grávidas carregadas de sensualidade. A plateia responde com aplausos e berros, histeria indisfarçável, um desfile transformado em evento incontornável da temporada. É certo que Rihanna tinha avisado. Logo em maio daquele ano, quando lançou a marca, anunciou que as peças se destinavam a todas as mulheres. Sem exceção. Mas ver a variedade de silhuetas sobrepor-se à ditadura da uniformidade e da magreza, ali mesmo, em plena passarela, teve um impacto distinto, um bruaá daqueles. No Twitter, vaticinava-se que ela tinha mudado as regras do jogo. E de alguma forma mudou.
Não é à toa que Luís Borges, afamado manequim e criador português, regressa a esse mesmo desfile para descrever uma certa mudança de chip que tem vindo a marcar o mundo da moda. “Durante muitos anos, habituámo-nos a algo que nos era imposto, os manequins muito altos, muito magros, com os olhos super-azuis. O auge disso foi o período das supermodelos, como a Claudia Schiffer e a Naomi Campbell. O mesmo em relação aos shows da Victoria’s Secret. As mulheres olhavam para aquilo e só queriam ser como as ‘angels’. Mas depois veio a Rihanna, com um desfile que revolucionou o mundo da moda e que mostrou que as roupas se adaptam a diferentes tipos de corpos. Que as plus-size não têm de usar fatos de treino, que também podem vestir roupas elegantes e sentirem-se sexys.” A visão de Luís Borges não surge aqui por acaso. É que, em meados de março, também ele deu que falar na Moda Lisboa, graças à sua Call Me Gorgeous – uma marca de acessórios handmade que aposta “na diversidade e na individualidade” – e a um desfile que fugiu aos cânones tradicionais. Pela passarela passaram perto de duas dezenas de manequins improvisados (foram selecionados através de um casting aberto para o efeito), dos magros aos plus-size, das altas às baixas, dos novos aos menos novos, das cisgénero às transgénero. Em comum, apenas dois pontos: serem negros (e negras) e não serem manequins profissionais.
Uma ideia que se aprimorou com o tempo, mas que de alguma forma foi beber inspiração ao início da carreira de Luís como modelo, já lá vão 16 anos. “Enquanto manequim, vi durante muito tempo coisas que me faziam pensar ‘mas como é que isto pode acontecer?’, castings de marcas em que só se escolhiam modelos de uma magreza extrema. A moda não deve ser isso, deve ser para todo o tipo de pessoas e não basta dizê-lo em casa ou entre amigos. É algo que quero passar para as pessoas, a minha marca é muito isso. Sendo alguém com voz e tendo ao meu dispor uma plataforma como a Moda Lisboa, achei que tinha que fazer algo que o mostrasse.” Mesmo que para isso tenha sido obrigado a romper com as normas estabelecidas. “Claro que fazer um desfile com pessoas que nunca tinham pisado uma passarela foi um risco, mas fazia sentido. Até porque acho que as pessoas gostam de ver manequins com que se identifiquem.” Por isso, mas não só, não tem dúvidas de que o caminho será obrigatoriamente por aqui. “Cada vez mais. Voltar atrás seria um tiro no pé. Ou queremos um caminho para um nicho ou queremos um caminho para todos.”
É a chamada moda para pessoas reais. Para a vida real. Mas o termo não é unânime. O próprio Luís Borges admite não gostar particularmente da designação. “Porque, na verdade, o que é uma pessoa não real?”, questiona. Também Maria Azevedo, professora de Design de Moda na Escola de Moda do Porto, enfatiza este ponto. “Qualquer contexto pode ser real. A ideia de que as coleções são cada vez mais abrangentes, contêm cada vez mais diferentes abordagens, faz para mim mais sentido.” Sendo que esta abrangência se aplica tanto à volumetria dos corpos como às idades, passando por uma variedade crescente de estilos e cortes. E por uma moda que, com todas as exceções que sempre cabem nestas derivas, ousa deixar a redoma do excêntrico e de um certo fulgor espampanante tão típicos dos desfiles rumo à aposta em peças cada vez mais usáveis, mais vendáveis, mais próximas do quotidiano. A tendência é, portanto, para uma aproximação crescente entre as passarelas e os looks da “vida real”.

(Foto: Rita Chantre/Global Imagens)
Gonçalo Peixoto, jovem designer que é já um dos nomes mais sonantes da praça, não tem dúvidas disso. “Mais do que uma tendência, foi, para mim, uma preocupação desde o início da minha carreira.” E porquê? Porque a moda “existe para ser usada e para estar na rua”. “Obviamente que um desfile é um momento maior para qualquer criador e exige que haja um maior trabalho conceptual. Mas eu também me arrepio quando vejo alguém na rua a usar algo que eu criei. É esse o fim maior do nosso trabalho.” Reconhece ainda o peso de uma certa mudança de paradigma nas apostas que vão sendo feitas. “Há uns anos, havia muita atenção mediática sobre os desfiles. Hoje, os criadores têm de trabalhar muito mais para captar essa atenção. Por isso, vemos muitos criadores a apostar em espetáculos e performances artísticas. E isto acontece porque atualmente as tendências desfilam nas redes sociais, que são uma passarela aberta ao Mundo. Quando alguém quer uma inspiração para um look, já não vai ver desfiles ou editoriais de moda. Abre o TikTok, o Instagram, o Pinterest. E está lá tudo.” Maria Azevedo também destaca o papel das redes sociais nesta renovada dinâmica entre os designers e o consumidor. Bem como o peso crescente dos chamados influencers. “Acabam por dar inputs, no sentido do que pode ser usável. E por, de alguma forma, influenciar a criação de tendências de moda.”
Gonçalo Peixoto não esconde que é “um grande consumidor de social media e de pop culture”. E admite que acaba por ir beber a esse universo uma parte da inspiração. “Permite-me perceber o que as mulheres gostam.” Mesmo que, a princípio, se tenha deparado com alguns entraves. “Quando comecei, existia um certo preconceito quanto ao que faço, de criar peças para todas as mulheres, para a vida real e todas as ocasiões. Mas realmente as redes sociais aproximaram as pessoas dos designers.” Também a pensar nisso, desde cedo apostou em ter duas linhas. “Uma mais acessível e uma mais cara, com melhores materiais e mais atenção na execução. Foi uma adaptação que fiz na altura da quarentena e que acabou por ser essencial para o crescimento e consolidação da marca.” Ou como os próprios criadores se vão reinventando a reboque das exigências dos tempos modernos.
Pensar em quem compra
Fátima Lopes, estilista com mais de 30 anos de trabalho na área, também reconhece a mudança que se vai gizando. “No início da minha carreira, os desfiles focavam-se quase só na vertente do espetáculo. Agora, não é assim, destinam-se a quem vai comprar. A minha ideia é, cada vez mais, mostrar o que temos à venda.” Tanto que até já aplicou uma mudança de estratégia na divulgação das coleções. “Em vez de o fazer com seis meses de antecedência, passei a apresentar a coleção que vai estar à venda no dia seguinte. A experiência foi-me mostrando que as pessoas viam o desfile, achavam muito giro, mas muitas vezes quando as coleções iam para as lojas, meses depois, já não se lembravam. Por isso é que muitas marcas fazem as chamadas ‘pre-coll [pré-coleções]’, há cada vez mais uma preocupação de chegar ao cliente final mais rapidamente.”

(Foto: DR)
E de fomentar uma moda “cada vez mais inclusiva e mais abrangente”, como há pouco se dizia. Fátima não foge à regra. “Há já uns anos que tenho modelos plus-size nos desfiles, mulheres mais velhas, homens mais velhos, todos esses corpos têm de ser vestidos e é importante que as pessoas se identifiquem com os manequins. Isso permite uma proximidade maior ao cliente. Costumo dizer que se só fizesse peças de tamanho 34 para mulher e 48 para homem morria à fome.” A abrangência reflete-se também ao nível dos estilos apresentados, numa tentativa de chegar a um público cada vez mais diverso. “Nesta coleção que vou agora apresentar [a 30 de abril], por exemplo, tenho um bocado de tudo. Da praia à gala, do estilo executivo aos jeans, passando pelos looks mais casual.”
Mas voltando à aproximação entre as passarelas e o consumidor final. Para Katty Xiomara, outro dos nomes grandes do design de moda nacional, nem sequer se trata de algo totalmente novo. “Se recuarmos um pouco mais, percebemos que a moda há muito bebe da inspiração de rua. Desde que há um conceito comercial mais pensado que se tenta ouvir o que a rua transmite.” Uma proximidade que, no entender da criadora, se intensificou a partir de 2015. “Aí começámos a perceber que já não era só uma inspiração, mas que havia uma parceria com a chamada ‘streetwear’.” Não que a vertente mais excêntrica, mais glamorosa, tenha desaparecido, note-se. “Ainda temos os dois mundos e isso parece-me natural”, ressalva. Como natural lhe parece que a moda reflita “um novo pensamento social de maior inclusão”. “Também nós deixámos de fazer a nossa coleção no tamanho S para passar a fazer no tamanho M. Além de quando fizemos a apresentação da coleção Aurora, utilizámos ‘pessoas reais’. E nesta última, a Vermilion, apostámos em atrizes com corpos muito diferentes entre si. Lá está, essa noção inclusiva.”

Graça Guedes, investigadora e professora de Design e Tendências de Moda na Universidade do Minho, enfatiza a questão da diversidade. Tanto de estilos como de cortes. “Antes víamos cortes muito a direito, bastava ser um pouco mais gordo para já não ficar bem. Agora vemos cortes diferentes, mais extravagantes, muito variados, quase qualquer pessoa que queira vestir uma roupa de determinada marca pode fazê-lo.” Ou como vamos presenciando a quebra de um certo elitismo, que tem tudo a ver com a evolução da fisionomia humana. “Temos vindo a assistir a uma alteração muito grande das formas dos corpos. Sobretudo nos últimos 20 anos, as marcas têm-se visto obrigadas a refazer as medidas. As pessoas estão mais altas, mais largas, deixaram de usar roupa muito apertada e isso também faz com que o corpo mude. Claro que isso não se compadece com certos estereótipos. E aí a moda ou se adapta ou morre.” Até porque, no fundo, tudo se resume a uma lógica bastante simples: “Só é moda aquilo que é proposto, comprado e usado. O que não for para a rua não é moda”.
Luís Buchinho, nome incontornável da moda nacional, tem, a propósito da inclusão, uma visão “muito pragmática”. “É uma tentativa de as grande multinacionais e casas de moda abrangerem um mercado mais alargado. Sinceramente, acho que há muito pouca humanidade nisso e muito capitalismo. A ideia é que mais pessoas se revejam nas suas peças para poderem ampliar brutalmente o seu mercado. Era algo que já estava a começar a acontecer antes desta conjuntura menos feliz e que se está a acentuar agora.” Mas faz questão de lembrar que a moda precisa sempre do fator novidade, da audácia dos novos rostos que vão surgindo, de vozes mais ativas que emergem em mundos mais paralelos. Partilha até uma dúvida que, de alguma forma, desafia a corrente dos tempos. “Antes ouvia-se muito a expressão: ‘Ai, isso é só para modelos.’ Só os modelos é que vestiam a roupa das marcas. Hoje, estamos a ver pessoas ‘normais’. E para ser sincero não tenho a certeza se o público gosta disso.”
Mais fluida e mais sustentável
Outra tendência que parece ter vindo para ficar – só parece, visto que neste meio a futurologia é um exercício particularmente arriscado – é a de uma moda mais fluida entre géneros, com as coleções a incluírem um número crescente de peças “genderless” (sem género). Graça Guedes dá o exemplo dos power suits para mulher. Ou da coleção outono-inverno apresentada recentemente pela italiana Gucci. “Vi lá modelos que poderiam ser vestidos por uma série de pessoas, independentemente do género.” Mas há muitos outros. O da última coleção da Dior, por exemplo. O que, para Maria Azevedo, tem tudo que ver com o lado social de que temos vindo a falar. “É a tal ideia de inclusão, de que cada ser humano é único. Há um exponenciar da individualidade, as pessoas estão muito mais à vontade para se expressarem.”

(Foto: Elisa Freitas – Raposa Branca)
Katty Xiomara aprofunda a explicação. “Não há uma necessidade de dividir tanto o segmento, usam-se praticamente as mesmas peças, com denominações diferentes e um detalhe diferenciador. É algo que também tem a ver com a sustentabilidade das marcas, com a própria sustentabilidade social. Acabam por ser coleções menos limitadas pela estação [por essa mesma razão, Katty Xiomara já não apelida as coleções de primavera-verão e outono-inverno, optando antes por lhes dar um nome], produzidas durante um período mais longo de tempo. É um pouco de tudo.”

Há ainda outra tendência aparente, percetível nas recentes apresentações das coleções outono-inverno, e que pode ser lida nesta lógica de roupas mais próximas do quotidiano: uma aposta cada vez maior em roupas confortáveis. Susana Marques Pinto, stylist que está no mundo da moda há quase 50 anos, vai mais longe. “Neste momento, a normalidade é a tendência. É uma leitura que faço muito imediata da mostra das coleções.” Mais clássicos, mais sobriedade, mais neutralidade, entende. Avança até com possíveis explicações para esta aposta. “Por um lado, porque a moda é efémera. Depois, porque no pós-pandemia se brincou bastante, o que de alguma forma é normal. E agora se calhar os financeiros dos grandes grupos estão a puxar os cordões à bolsa.” Luís Buchinho concorda que há uma aparente tendência para o minimalismo. O que acaba por ser reflexo dos dias que vivemos. “Tem tudo a ver com a guerra e os tempos que correm. As pessoas querem compras de valor seguro porque estão com um nível de vida extremamente inflacionado. E assim há uma não culpabilização, pensa-se ‘vou usar isto muitas vezes, nunca vai passar de moda’. Mesmo as pessoas que são verdadeiramente ricas procuram vestuário muito minimalista.” Curiosamente, também consegue notar a tendência oposta. “Depois há o outro lado, de quem procura vestuário extremamente absurdo. Oscilamos entre um minimal extremo e um surrealismo extremo.”
Já Fátima Lopes recusa esta ideia de normalidade. “Vejo coisas completamente extravagantes, assimetrias, volumes extra-size. Não me parece nada que a normalidade e a sobriedade sejam uma tendência generalizada.” No que todos parecem concordar é nesta ideia de uma moda mais inclusiva, mais abrangente, mais próxima. E num ponto de não retorno. “A moda não manda, a moda tem de se adaptar. Acho que não vamos voltar atrás, não temos como, não há como dizer que há outra vez um só estereótipo de beleza e de idade e que ficamos por aí. O Mundo mudou e quem não se soube atualizar e perceber essa mudança está fora de contexto.”