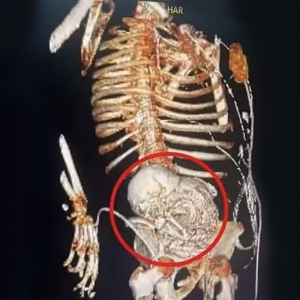Nos últimos tempos muito se tem falado e escrito sobre a baixa taxa de natalidade em Portugal – fazem-se estudos, procuram-se especialistas, ouvem-se as justificações dos pais – mas raramente escutamos aquelas sobre quem as atuais famílias parecem girar. As crianças. O que têm os filhos únicos a dizer sobre o assunto?
A maior vantagem é não ter de partilhar os meus brinquedos e jogos com ninguém. As minhas amigas contam-me que os irmãos lhes estragam e mexem em tudo. O mais chato é quando quero brincar com alguém e estou sozinha.» Palavras de Alexandra Dias, 8 anos, residente em Vila Nova de Gaia, quando confrontada com as vantagens e as desvantagens de não ter irmãos. Ainda assim, não hesita quanto à sua condição de filha única. «Adoro, adoro, adoro.» Já Gonçalo Alves, natural de Vilarinho, Santo Tirso, não tem dúvidas de que a sua vida dará uma grande volta caso deixe de ser o único filho. «Os meus pais iam mudar de atitude comigo, porque quando quisessem adormecer o meu irmãozinho e eu quisesse fazer alguma coisa, eles não iam ajudar. Teria de substituir o meu quarto de brinquedos pelo quarto do meu irmão. Também à mesa iria ter menos espaço porque ia ter mais um lugar.» Carolina Baptista, 13 anos, residente nos Olivais, em Lisboa, é ainda mais pragmática. «A maior vantagem é ter o meu espaço, ter os mimos só para mim e haver sossego em casa sem irmãos mais novos. Frisei sempre aos meus pais que não queria irmãos e como sabia que a minha mãe também não queria ter mais filhos fiquei mais descansada.»
-
Alexandra Dias adora ser filha única.
Três depoimentos é manifestamente pouco para concluir que os filhos únicos são (ou estão) felizes e recomendam-se, mas talvez ajudem a combater a eterna ideia de que, além de mimadas, são potencialmente crianças mais tristes, introspetivas e solitárias. Que é como quem diz, mais infelizes. «Você me respeita, não grita comigo, mesmo que eu tente tudo para te irritar. Você tem que entender que eu sou filho único, que os filhos únicos são seres infelizes», cantava Cazuza em 1989. Foi uma das últimas músicas do artista brasileiro, ele que morreria no ano seguinte, com apenas 32 anos.
É sabido que nem tudo o que vem nos livros e nas músicas deve ser levado à letra e a verdade é que foi através da obra de Stanley Hall (1844-1924) que esta ideia terá entrado no nosso imaginário. Um especialista, é certo – professor universitário, primeiro doutorado em Psicologia nos Estados Unidos e um dos pioneiros da psicologia infantil em todo o mundo, tendo-se debruçado sobre os conflitos com os pais, perturbações de humores e comportamentos de risco nas crianças e adolescentes –, mas também o autor desta frase «fatal»: «Ser filho único é, em si mesmo, uma doença.» Acreditava que a superproteção tornava estas crianças pouco sociáveis e problemáticas.
Será que ainda é verdade? Será que alguma vez foi verdade? A resposta está longe de ser definitiva. E consensual. Mário Cordeiro, pediatra, considera mesmo que os filhos únicos são como as tradições: «Já não são o que eram.» Adianta, inclusive, que muitas crianças «foram injustamente rotuladas de filhos únicos no sentido de mimado, estragado, exigente, narcísico e malcriado, quando eram simpáticas, gentis, altruístas e bem educadas. Hoje, a maioria das crianças que nascem no nosso país são primeiros filhos. Contudo, a socialização, a menor hiperproteção dos avós e da restante família e tudo aquilo que aprendemos sobre educação dá-nos saberes e armas para evitar que o único filho se torne filho único». Ainda segundo o pediatra, a escolarização precoce veio também ajudar a desenvolver uma «empatia, solidariedade, respeito, partilha e interação» que antes parecia ser bem mais difícil adquirir.
Otília Fernandes, professora universitária, investigadora e autora do livro Ser Único ou Ser Irmão, sabe que os tempos mudaram, avança que os filhos únicos poderão mesmo apresentar uma autoestima e um desenvolvimento cognitivo superiores aos das crianças que têm irmãos – em grande parte devido à aposta na educação –, mas defende que, de uma forma geral, a sua lacuna continua a situar-se na área das competências sociais. «Os primeiros estudos sistemáticos sobre a fratria [conjunto de irmãos] foram feitos pelo alemão Walter Toman, nos anos 50 do século passado. Desde então, inúmeros estudos, entre os quais o meu, demonstraram cientificamente o menor número de amigos, o menor altruísmo, a maior dificuldade relacional/social. Não tendo de partilhar o bem maior que são os pais, pelo menos durante a infância, terão menos condições de aprendizagem direta da compreensão do ponto de vista do outro, do ciúme e do ódio, da negociação e do saber perder.»
Um dos maiores estudos alguma vez realizados na Grã-Bretanha (Understanding Society – Entendendo a Sociedade), em 2011, veio deitar ainda mais achas para a discussão. Num universo de cem mil pessoas analisadas conclui-se que o nível de felicidade desce à medida que aumenta o número de irmãos em casa. Os filhos únicos são, afinal, mais felizes, titularam os jornais e revistas. Não se pense, contudo, que a questão ficou resolvida. Bem pelo contrário. «Uma criança pode dizer-se feliz porque tem tudo, eventualmente não sabendo que o não ter tudo é um motor do desejo. E a busca do desejo é um fator para a felicidade. A frustração, que enraivece num primeiro momento, desencadeia pensamento, estratégia e ação», explica Mário Cordeiro.
Mas há outros números que este estudo deixou a nu: cerca de 31 por cento dos entrevistados afirmam ter sido vítimas de violência por parte dos irmãos. «É uma realidade para a qual ainda não despertámos», afirma Otília Fernandes. Outro estudo, este de 2014, do qual é coautora e que teve como alvo 588 estudantes universitários, mostra que a violência entre irmãos é uma das formas mais comuns de violência familiar. Não só física e verbal, mas também sexual. «Os maridos não podem bater nas esposas, os pais nos filhos, os colegas uns aos outros, mas aceita-se que os irmãos se batam e agridam», conclui Otília Fernandes. Quem não conhece a história de Caim e Abel?
-
Beatriz e Pedro Martins não imaginam a vida um sem o outro. Fotografia de Júlio Lobo Pimentel
Pedro e Beatriz Martins, residentes em Massamá, estão a anos-luz deste universo. Brincam, provocam-se, mas não passam um sem o outro. Beatriz, mais velha, mais madura, explica: «A maior parte das vezes estamos a rir ao mesmo tempo que andamos à bulha. Chateamo-nos por coisas parvas. Mas não somos aqueles irmãos que têm ódio um ao outro, nada disso. Ele mesmo que não tenha nada para me chatear arranja. Temos de estar sempre a picar–nos um ao outro, senão não somos nós. Não seria a Beatriz e o Pedro.
Seria a Beatriz e outro rapaz qualquer.» E sobre que é conversam um rapaz de 8 anos e uma rapariga de 11? «Conversar?! Nós não conversamos muito. Rapazes e raparigas é um bocado difícil conversarem. Ele diz que as conversas que eu tenho são parvas, mas eu também acho isso das dos rapazes. Ele é fanático por futebol e por isso nunca vejo televisão, nunca mesmo. Depois o meu pai vê o ciclismo. O ciclismo ocupa quatro horas, depois começa o futebol. As raparigas da casa, eu e minha mãe, quase nunca veem televisão, é mais isso. Agora ele tem u ma paixão pelo hóquei, ainda é pior.»
Pedro não concorda, naturalmente. «Estou sempre a fazer o que ela quer.» Por mais que se chateiem garantem que nunca lhes passou pela cabeça que seria melhor não ter irmãos. «Já reparei numa coisa: eu com uma amiga fico zangada e no outro dia lembro-me que ainda estou zangada. Com o meu irmão zango-me e no outro dia já não me lembro. Apenas gostava de ter o meu espaço. É mais difícil ser a irmã mais velha.» O espaço, essa eterna questão. Pedro faz tábua rasa sobre o assunto. «Consigo ter um espaço só para mim, mas não preciso. Estou sempre brincar. Pelo menos tento. Às vezes ela é que não quer.» Mas nem tudo são discordâncias. Ambos admitem que gostariam de voltar a estudar na mesma escola. «Estudámos juntos durante alguns anos, agora não. Sentia-me mais segura. Além disso podia vê-lo e depois contar tudo à mãe. Ele diz que eu sou muito queixinhas.» Pedro desta vez não reage: «Uma vez houve um pequeno incêndio na escola dela e eu passei o dia todo preocupado, queria saber se lhe tinha acontecido alguma coisa.»
E como veem eles os colegas e amigos filhos únicos? Pedro garante não notar diferença, já Beatriz não hesita em traçar um diagnóstico. «A maior parte dos meus amigos da escola não têm irmãos. Acho que os pais sentem um bocado de culpa e por isso recebem mais prendas. Ou então têm mais dinheiro para eles, não sei. Não digo que sejam mais mimados, porque alguns até são menos, mas geralmente é assim. Toda a gente que conheço quer ter um animal de estimação, mas os que têm são na maioria filhos únicos.»
Alexandra, Gonçalo e Carolina assumem sem qualquer complexo que gostam de ser filhos únicos, e não renegam a sua dose de mimo – «a minha mãe diz que eu devia de ter muitos irmãos para deixar de ser mimalho», afirma Gonçalo –, mas também não escondem aqui e ali alguns momentos solitários. Fazem–no, contudo, sem drama aparente. A julgar pelas suas palavras e pela forma como ocupam o tempo, longe parecem ir os tempos em que um filho único não sabia o que fazer. «Quando estou em casa jogo, brinco, vejo televisão ou cozinho com a minha mãe. Também brinco com o meu pai. Muitas vezes as minhas amigas vêm para minha casa. O mais chato é quando quero brincar com alguém e estou sozinha», diz Alexandra.
A idade aumenta, mas as repostas são em tudo semelhantes. Para Carolina, adolescente, o mais «difícil de não ter irmãos é que às vezes os meus pais estão a trabalhar e não tenho ninguém para jogar videojogos ou passar tempo». Já Gonçalo, quando não está na escola, passa os dias «na piscina, a ver televisão, a jogar bilhar, PlayStation e futebol. De vez em quando também brinco com amigos e o meu primo de 8 meses». A parte menos boa é precisamente não ter ninguém «para jogar futebol, PlayStation, bilhar ou ir para a piscina».
Palavras simples, ingénuas, sorridentes, que remetem, ainda assim, para outra questão, também ela poucas vezes abordada. Como será quando forem mais velhos? Falar em filhos únicos é, por defeito, falar em crianças, mas se a infância e a adolescência são transitórias, ser filho único é um estado para a vida. Se é verdade que terão de travar menos batalhas pela conquista do seu espaço e atenção dos pais, poder-lhes-á faltar algum apoio e companhia, sobretudo nos maus momentos.
António Torrado, 74 anos, sabe do que fala. «Quando os pais caem na doença, quando os perdemos, ficamos órfãos, sentimo-nos sós.» Escritor, argumentista, dramaturgo e uma das maiores referências na literatura infanto-juvenil – em 1988 foi distinguido com o Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura para Crianças –, ainda é do tempo em que ser filho único era a exceção. «Criei uma associação de filhos únicos, juntamente com outros amigos. Éramos adolescentes e queríamos acabar com o anátema do filho único. Do menino mimado. Naqueles tempos era ainda mais forte e éramos algo discriminados.» António Torrado pode ter feito tudo para ajudar a mudar esta realidade, mas sabe que foi essa mesma realidade que fez dele escritor. «Sempre quis ter uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Gostava de ter sido um pouco protetor, já que fui sempre muito protegido. Acabei por inventá-los e escrevia para eles. A figura fantasmática, o irmão fictício, é muito comum nos filhos únicos. Se tivesse tido um irmão talvez tivesse exteriorizado tudo de outra forma. Talvez me tivesse dedicado mais à rua, ao desporto. Brincava sozinho. Sempre soube brincar sozinho. Acabei por transferir isso para a literatura.» Um universo que à partida não lhe estaria reservado, até porque os «pais inventam um destino para os filhos» e nem sempre é fácil fugir ao guião traçado. «O meu pai era empresário, queria que eu trabalhasse com ele, daí ter sido mais prudente, mais recatado. Menos aventureiro. Para não os desiludir. Ainda andei titubeante, mas acabei por seguir o meu caminho. Quando recebi o Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura o meu pai já estava muito doente, mas esteve presente. Disse-me que ficava feliz por ter seguido o meu caminho. Foi o maior prémio que poderia ter tido.»
Os tempos mudaram e as estatísticas estão aí para comprová-lo. Ser filho único já não é a exceção, algo que possa causar vergonha ou ser motivo de gozo por parte dos colegas e amigos. Até porque é mais difícil gozar com o outro quando este é igual a nós. Se em 1991 apenas 43,8 por cento dos casais tinham um filho, em 2011 esse número aumentou para 54,7 por cento. Os números tornam-se mais claros à medida que se recua no tempo: em 1960 um agregado familiar português era em média constituído por 3,8 pessoas. Em 2011 diminuiu para 2,6. Já as famílias com mais de cinco elementos representavam 17,1 por cento do total, ficando-se agora pelos 2,0 por cento. Dados e conclusões do Instituto Nacional de Estatística juntamente com o Observatório das Famílias e das Políticas de Família referentes aos Censos de 2011. Relatório onde se conclui também que o número de filhos por mulher atingiu os mínimos: 1,35.
Os alarmes soaram, repetem-se os apelos e a necessidade de incentivo à natalidade, de forma a contrariar o saldo natural negativo – mais óbitos do que nascimentos. Mas a verdade é que os últimos números acentuam a tendência: se Portugal já tinha batido em 2013 um novo recorde negativo de natalidade (nasceram 82 538 crianças, menos 7303 do que no ano anterior), tudo indica que neste ano os números venham a ser ainda mais preocupantes: segundo dados avançados pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, nos primeiros oito meses de 2014 houve apenas 53 641 recém-nascidos a efetuar o chamado «teste do pezinho». Menos 957 do que no ano passado.
Como vamos alterar esta tendência? Como será assegurada a substituição de gerações? Estará esta nova geração de filhos únicos bem preparada para enfrentar o mercado de trabalho? Questões, inúmeras questões, que, pelo menos para já, não cabe a estas crianças responder. Se bem que não fujam a nenhuma pergunta. «Se tivesse filhos gostava de ter um, porque não sei tratar lá muito bem de bebés», conclui Gonçalo, resposta e sorriso pronto, como qualquer filho (único).
CONVERSAR É PRECISO
É sabido que as crianças pensam, falam e perguntam sobre (quase) tudo, mas será que falam entre si sobre assuntos como este? Carolina, 13 anos, assume que às vezes fala com os colegas «sobre isso», já Gonçalo, 8 anos, diz que nunca falou com os amigos sobre ser filho único. Algo normal, garante Otília Fernandes. Sensivelmente «até aos 6 anos, já dizia Piaget, a criança é um ser muito egoísta, pensa só no que seria bom para ela, e lá no fundo todas as crianças querem ser únicas, mesmo que digam que querem um irmão». Já a conversa entre filhos e pais é outro assunto. Promover o diálogo é fundamental, adianta Mário Cordeiro. «Os pais devem ouvir e sobretudo escutar as crianças, e não apenas o contrário. Defendo muito os “almoços de negócios” entre pais e filhos. As famílias são “empresas” em que tem de haver reuniões periódicas e avaliações do que corre bem ou mal.» Ainda assim, e por mais diálogo que exista, na hora de um casal avançar (ou não) para outro filho, a decisão não deve ser influenciada ou inflacionada pela vontade da criança. Ouvir é uma coisa, decidir é outra. «Só cabe aos pais decidir os número de filhos que querem», conclui a investigadora.
NA PRIMEIRA PESSOA
Vê-se mesmo que és filho único.» Já perdi a conta ao número de vezes em que ouvi esta expressão. O mesmo, ou mais, em que ouvi a frase: «Nem pareces filho único.» Se os rótulos que nos colocam são o reflexo das nossas atitudes, a minha personalidade parece ainda longe de estar definida. Não me preocupo, contudo. Ser filho único é também aprender a viver com estas contradições. As nossas e as dos outros. A forma como nos vemos e a maneira como o mundo nos olha(va). Há pouco mais de três décadas ser filho único já não era um drama – é possível que nunca tenha sido um drama, apenas uma caraterística – continuo, ainda assim, a carregar comigo este «tema». Talvez por isso tenha escrito este artigo. Talvez por isso tenha escrito um livro para crianças sobre o assunto, Diário das Coisas Impossíveis. «O que será melhor? Crescer, sozinho, rodeado de brinquedos ou, com menos brinquedos, mas rodeado de irmãos?» É esta a questão que atravessa toda a obra. Uma pergunta ingénua, porventura simplista, para a qual não tenho resposta e que pretende, acima de tudo, estimular a discussão. Costumo dizer, meio a brincar meio a sério, que ainda hoje tenho uma secreta esperança de que a minha mãe engravide, mesmo já tendo passado dos sessenta. Nem que fosse para mais tarde perceber que, afinal, não há nada como ser filho único. João Ferreira Oliveira, autor do livro Diário das Coisas Impossíveis