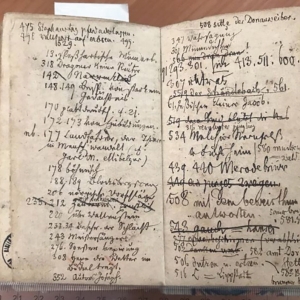Será o sexo masculino mais suscetível à dor? Ou a velha ideia de que eles são mais “paridos” não passa de um estereótipo? As respostas da ciência. E não só.
A imagem é conhecida. Uma mulher a ter um filho, esbaforida, vermelha, a jorrar gotas intermináveis de suor, a dor a querer levar a melhor e ela a resistir estoicamente. Ao lado, o companheiro segura-lhe a mão, nervoso, ansioso, a querer ajudar sem saber como, os gritos e a tensão a tomarem conta da sala e ele a sentir o frenesim mais ao longe, mais ao longe, até que tudo se apaga e cai redondo no chão, desmaiado. A caricatura é frequentemente repescada de cada vez que se invoca a teoria de que as mulheres são mais estoicas na hora de resistir à dor. Ou de que os homens são mais sensíveis. Mais “paridinhos”. Mais piegas. Mais chorinhas. A lista de adjetivos prolonga-se até onde a maledicência quiser. Serão mesmo?
O assunto está plasmado até na literatura. António Lobo Antunes, por exemplo, escreveu um “Poema aos Homens Constipados”. “Pachos na testa, terço na mão/Uma botija, chá de limão/Zaragatoas, vinho com mel/Três aspirinas, creme na pele/Grito de medo, chamo a mulher/Ai Lurdes que vou morrer”, pode ler-se no texto do autor português. A questão impõe-se: as caricaturas feitas acima têm ou não um fundamento palpável? Certo, há uma boa dose de estereotipagem a impregnar este assunto. Mas a teoria é em parte confirmada por quem está habituado a testar (em terceiros) os limites da dor.
“Costumamos dizer que os homens são mais ‘mariquinhas’. Tendem a queixar-se mais”
Hugo Romão
Neurocirurgião
“Costumamos dizer que os homens são mais ‘mariquinhas’. Eu faço muitas vezes aqueles procedimentos minimamente invasivos, como anestesiar uma raiz nervosa, em que basicamente introduzimos a agulha e injetamos um anestésico, e os homens tendem a queixar-se mais. Não temos números concretos, mas, regra geral, as mulheres suportam melhor esse tipo de procedimento”, assegura Hugo Romão, neurocirurgião no Centro Hospitalar de Gaia. A resposta levanta outras questões: haverá explicação científica para isso? Os homens serão, de facto, menos tolerantes à dor? As mulheres nascem mais preparadas para resistir a situações do género? A resposta é tudo menos linear. Mas há várias nuances que vale a pena aflorar.
Os genes a ditar a sorte
Desde logo, a questão da medição da dor. Nova pergunta: há forma de mensurar o sofrimento e de comparar a dor que duas pessoas estão a sentir? Sim e não. Sim porque há escalas de dor, em que o doente pode ajudar os médicos a perceber os níveis de aflição com que se debate. Não porque a escala é individual e subjetiva, invalidando, portanto, qualquer comparação totalmente objetiva. “O mesmo estímulo pode dar um 5 numa pessoa e um 7 noutra. Podemos avaliar diferentes graus de dor num mesmo indivíduo, mas não compará-la entre dois”, esclarece Hugo Romão. No futuro, quem sabe. Há já estudos que apontam para que possa vir a ser possível medir a dor através de análises ao sangue, recorrendo a marcadores específicos. Mas a investigação destes parâmetros ainda carece de sustentação e validação.
“Há pessoas que nascem com mais ou menos sensibilidade à dor. A dor também é um contexto”
Raúl Marques Pereira
Médico
Depois, há outra questão que importa ver respondida. A explicação para as diferentes sensibilidades à dor. Por exemplo: porque é que, mesmo entre as mulheres, há quem chore quando faz a depilação e quem garanta não sentir praticamente nada? Raúl Marques Pereira, clínico de Medicina Geral e Familiar com especialização na área da Dor, sublinha que há duas parcelas importantes a ter em conta nesta equação: uma é genética, a outra prende-se com as construções pessoais. “Há pessoas que nascem com mais ou menos sensibilidade à dor.”
A mulher que não sabe o que é a dor
O médico recorda até o caso de uma americana que foi notícia no jornal “The New York Times” por nunca ter sentido dor. Trata-se de Jo Cameron, de 71 anos. Foi mãe, sim, mas mesmo durante o parto garante que tudo o que sentiu foi “o corpo a mudar”. Nem um pingo de dor. E tudo sem epidural. O caso chamou a atenção da comunidade médica quando, há uns anos, Jo teve de ser operada a uma mão. Depois da cirurgia, os clínicos estranharam que não sentisse qualquer dor. Que nem sequer aceitasse os analgésicos que lhe queriam dar. “Não preciso de nada”, repetia. As perguntas subsequentes deixaram os médicos convencidos de que estavam perante um caso peculiar. Jo nunca havia sentido dor. Habituou-se, portanto, a ir dar com o corpo cheio de cortes, queimaduras, até fraturas, sem que de nada se apercebesse. Às vezes era preciso sentir o cheiro a carne queimada ou o marido reparar que tinha sangue para notar que algo tinha acontecido.
O caso foi então reportado ao Molecular Nociception Group da University College London, um grupo de trabalho que procura, através de abordagens genéticas, entender a biologia da dor e do toque. A resposta chegou já no decorrer de 2019. Num artigo publicado em “The British Journal of Anaesthesia”, os cientistas explicam a total insensibilidade à dor de Jo Cameron com uma mutação genética. Uma mutação rara, que torna a história de Jo um achado. No entanto, as variações na sensibilidade à dor consoante as diferentes heranças genéticas são comuns.
“A dor tem muito a ver com a somatização. Quando não estamos bem, tendemos a somatizar mais”
Rute Brás
Psicóloga
E depois há o segundo fator mencionado por Raúl Marques Pereira, especializado na área da Dor: as construções pessoais. Ou os fatores psicológicos. “A dor que sentimos é muito influenciada pelo que estamos a viver. Até pelo que já vivemos. Há estudos que demonstram que crianças que tenham sido submetidas a experiências de dor têm mais tendência a desenvolver dor no futuro. E também há evidência científica de que pessoas que passem por um quadro de dor permanente acabem por senti-la de forma mais desproporcionada no futuro. No caso das pessoas com dor crónica acaba por haver uma alteração cerebral. Ou seja, se um doente estiver três meses com dor, isso fará com que no futuro tenha maior suscetibilidade.”
A somatização
Dentro das construções pessoais, há outros aspetos a ter em conta. A ansiedade, a depressão, a fragilidade emocional. No fundo, tudo o que vamos vivenciando. “A dor é um contexto, uma construção mental”, resume Raúl Marques Pereira. Poderemos então assumir como verdadeira aquela tirada do senso comum, meia séria, meia brincadeira, de que a dor é psicológica? Em parte sim – mas só em parte. Rute Brás, psicóloga, ajuda a deslindar o tema. “A dor tem muito a ver com a somatização. Quando não estamos bem, com um estado muito grande de ansiedade, é mais fácil somatizar. Há quem tenha dores musculares, dores de cabeça, dores de tudo. É muito esta parte psicológica da dor, que se transpõe para a parte física. Mas atenção, de facto a pessoa vivencia essa dor e ela existe”, destaca a clínica. Pela experiência que tem, Rute não tem dúvidas de que essa “somatização” é mais frequente nos homens. Embora admita que não consegue avançar com uma explicação plausível para tal.

E, afinal, o que é que a ciência consegue provar no que toca à dor? Hugo Romão, do Centro Hospitalar de Gaia, ajuda a compilar algumas das conclusões dos estudos efetuados até ao momento. “Sabe-se que há uma certa prevalência da dor crónica nas mulheres, sabe-se que nas idades entre os 40 e 55 anos é quando há maior prevalência de dor, que há um ligeiro predomínio da dor crónica nas pessoas casadas, bem como nos extratos socioeconómicos mais baixos.”
Já em relação à disparidade de dor entre homens e mulheres, há alguns indícios. Por exemplo, um estudo da Universidade McGill, no Canadá, publicado na revista científica “Current Biology”, defende que os homens revelam maior stresse e hipersensibilidade quando confrontados com algum tipo de dor que já experienciaram anteriormente. Segundo um artigo dado à estampa no “Jornal Médico”, a equipa de cientistas canadianos “foi surpreendida” quando detetou que homens e mulheres não se recordam do passado da mesma maneira. “Quando confrontados com a eventualidade de virem a sofrer a mesma dor novamente, os homens sentem-se ‘mais stressados, hipersensíveis, nervosos e relutantes’ do que as mulheres”, pode ler-se na publicação. No entanto, serão precisos estudos mais aprofundados para se chegar a resultados mais concretos e mais conclusivos nesta matéria complexa.
“O corpo feminino, ao longo da história, tem sido retratado como um corpo mais frágil e mais exposto”
Alexandra Lopes
Socióloga
Raúl Marques Pereira advoga isso mesmo. “Essa ideia que há de os homens se queixarem mais do que as mulheres não tem uma tradução palpável nos estudos que eu conheço. A mulher acaba por ir aguentando, se calhar acaba por ter mais resiliência. Mas é um assunto que está meio enviesado, muito estereotipado. É verdade que, regra geral, os homens são doentes mais difíceis, mas, por exemplo, será uma coisa da população portuguesa?”, questiona o clínico de medicina geral e familiar.
O corpo exposto vs o corpo blindado
A questão remete também para uma “construção social”, como lhe chama a socióloga Alexandra Lopes. “As nossas reações e os nossos sentimentos são socialmente construídos. Aprendemos de pequeninos quais são as formas corretas, adequadas e socialmente esperadas. É aí que entra a questão da construção de género e da relação que têm com a dor”, começa por explicar a especialista na área da Sociologia da Saúde.
Neste campo, a forma como a sociedade se habituou a olhar para os corpos feminino e masculino pode fazer toda a diferença. “O corpo feminino, ao longo da história, tem sido retratado como um corpo mais frágil e mais exposto. Um corpo aberto, que sangra e que se abre para a saída de um outro ser. Experiências que, ao mesmo tempo, tornam o corpo feminino mais resistente e mais tolerante à dor. Até porque a dor faz parte do universo feminino: a dor quando menstrua, a dor quando tem um filho, etc. No caso do homem, há a imagem de um corpo blindado, forte, resistente. A dor não é uma coisa natural”, considera Alexandra Lopes
Estamos, portanto, perante uma construção social que tem influência direta no nosso comportamento. “Como somos socializados nestas construções coletivas, vamos desenvolver reações condizentes com isso”, remata Alexandra Lopes. E o estereótipo segue. De volta a António Lobo Antunes: “Faz-me tisana e pão de ló/Não te levantes que fico só/Aqui sozinho a apodrecer/Ai Lurdes, Lurdes que vou morrer”.