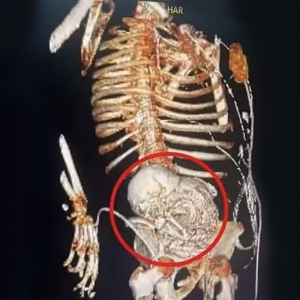O cantor David Bowie morreu sem nunca publicitar o seu cancro no fígado. A atriz Sofia Ribeiro não só rapou o cabelo, em desafio à doença, como cedeu as imagens do momento. Como aliviar as sombras do cancro? E como se tira o cancro da sombra quando custa tanto falar sobre ele? No Dia Mundial Contra o Cancro que se celebra a 4 de fevereiro, procurámos algumas respostas.
Logo que se soube da morte de David Bowie, tão de repente, que diabo, o mundo em choque quis saber as razões do fim da lenda britânica. Julgavam-no um homem que se alimentava da atenção dos fãs, todo ele vida pública. Apagar como um fósforo aos 69 anos, após lançar o último álbum Blackstar (uma despedida insuspeita), só podia ser drogas ou ataque cardíaco, nunca cancro. Muito menos um cancro no fígado com que já lutava há 18 meses, em silêncio. «É triste dizer que é verdade. Vou estar offline uns tempos», avisou no Twitter o filho, Duncan Jones, pedindo privacidade na dor. Por essa altura a atriz Sofia Ribeiro rapou o cabelo – diagnóstico: cancro da mama – e publicou o vídeo no Facebook: «Passei a escova e caiu. É tempo de levantar a cabeça.» E entre um lado e o outro da linha, um mar de questões: porquê falar? Porquê esconder? Porquê julgar decisões alheias, que só quem tem a doença pode tomar?
«É violentíssimo perder uma filha. Não o pedimos. Não o desejamos a ninguém. Mas a Leonor tinha uma capacidade inata de aproveitar cada segundo no seu expoente máximo de felicidade, em casa ou no hospital, e assim passou a ser a vida para mim também», conta Vanessa Afonso, a mãe da Princesa Côderosa, perdida aos 5 anos para um tumor de Wilms bilateral com metástases pulmonares e nos rins. Os pais nunca esconderam porque não sabiam nada da doença e mexeram-se em busca de ajuda que lhes valesse. «À medida que enfrentávamos a realidade, percebíamos o valor do nosso testemunho. Ninguém gosta de falar de crianças que morrem, mas as pessoas precisam de saber como lutar pela vida dos seus filhos.» Enquanto isso, Jorge Coutinho ia escrevendo sobre a filha, um exemplo na adversidade desde que se soube, em 2013, até ao fim, a 3 de setembro de 2014. «A Nonô era especial. Vivi a dor extrema, mas a sua luz fez com que a bala no meu peito virasse medalha. Fiz meu o seu legado de amor na tragédia.»
Maria José Gil, psicóloga clínica no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, avisa desde logo que cada caso é um caso, e tudo o que possa contribuir para uma melhor adaptação é uma mais-valia: «O diagnóstico de cancro é frequentemente vivido com grande sofrimento existencial, de modo que não podemos identificar uma resposta-tipo ou uma sequência habitual após receber a notícia.» A doença desencadeia reações emocionais intensas, como incerteza, sofrimento, dor física, dependência, perda de controlo e, consequentemente, distintas respostas individuais. «As características individuais e os recursos internos são determinantes para o modo como cada pessoa lida e se adapta à doença: umas pessoas necessitam de partilhar as suas vivências enquanto outras, mais reservadas, elaboram a sua própria adaptação de forma mais contida.»
No caso de Sofia Ribeiro, expor-se nas redes sociais tem-na mantido forte graças ao apoio recebido, mas deu também azo a uma reflexão polémica do humorista Rui Sinel de Cordes, a lamentar a mediatização (chamou-lhe cancro VIP): «Antigamente bastava fumar ou apanhar sol sem protetor. Hoje em dia é preciso ter um amigo editor de vídeo e investir em duas Go-Pro.» O nome da atriz nunca foi mencionado no post, mas alguns media associaram-na à crítica de Sinel de Cordes e o caso descambou em indignação. Foi diferente com o gestor Manuel Forjaz: revelou sem medo o cancro no pulmão, deu palestras, conselhos no Facebook e escreveu o livro Nunca Te Distraias da Vida para dizer a outros que a primeira quimioterapia foi má, a doença é má, mas há vida para lá dela. «Abrir-me assim é uma forma de lidar com tudo, porque me obriga a pensar nos assuntos», contou em janeiro de 2014 numa entrevista à Notícias Magazine. «A família detesta que eu fale tanto. Ao mesmo tempo, sabem que me faz bem. Posso morrer de cancro, mas ele nunca me matará», frisou, antes de perder a batalha três meses depois, aos 50 anos.
Maria José Gil enobrece este impacto que as figuras públicas têm na sensibilização para determinadas causas. Na doença oncológica, em concreto, tem permitido quebrar o estigma e assumir uma normalidade na vivência da doença, bem como dos efeitos secundários dos tratamentos. «Desde o momento do diagnóstico, os doentes e familiares estão a lidar com perdas significativas ao nível da autonomia, imagem corporal, relações interpessoais, capacidades e preocupações existenciais. Em situações de progressão da doença, já se encontram a vivenciar luto antecipatório com grande dor», explica a psicóloga. É um momento de grande vulnerabilidade, dúvidas, tristeza, raiva e medo, o que implica mudanças significativas nas inúmeras áreas pessoais: relacional, laboral, familiar, social. «E, aqui, o suporte familiar e a rede social de apoio representam um papel único, dado serem os recursos basilares da vida das pessoas.»
Que o diga Carla Amorim, 42 anos, o ar suave transformado em feroz determinação ao ser confrontada com o melhor e o pior da sua vida em 2009: um filho de nove meses e um cancro na mama. «Comecei a perder líquido do peito já sem amamentar, fui às urgências e vi logo pela cara da médica o que se passava. Só pensei “Tirem-me isto. Operem-me o mais depressa possível, porque eu tenho um bebé e ele não pode ficar sem a mãe”.» No trabalho avisou que ia continuar: faria a vida normal, apesar do cansaço. Pôs toda a gente ao corrente pedindo-lhes que não chorassem, afinal ainda não estava morta. Em agosto chegou a ir à praia de casaco vestido, já sem peito, para viver bons momentos com o filho. «Disseram que era doida, não seria capaz, mas eu sou mais teimosa. Ficar fechada em pânico não era opção.»
Sete anos passados, Carla mantém essa postura de desabafar abertamente no seu blogue e página do Facebook Viver Com Cancro da Mama, um alívio para quem o vive e quem o vê. «Falar ajuda a perceber que estamos a lutar com força, a pôr a tónica na cura e não na morte: se nós não nos vamos abaixo, por que razão irão as pessoas à nossa volta?» Ainda faz tratamentos de hormonoterapia, um comprimido por dia, e sente a sombra a pairar, sempre presente. Ficou careca. Reconstruiu o peito e abominou os olhares de pena. Sacrificou ovários e útero. E depois de passar pelos tratamentos revoltou-se e atirou-se à escrita, para dizer a todas as mulheres que a sua fase má durou oito meses, foram os piores, mas passou. «Não se resignem à doença. Não desistam. Custa muito, obviamente que sim. Mas custa mais se nos fecharmos em casa a chorar, sozinhas.»
Marine Antunes concorda, ela própria aferrada às palavras desde que foi diagnosticada com linfoma não-Hodgkin a um milímetro do coração há 12 anos, tinha então 13. «Detetaram-me uma mancha de cinco centímetros no hospital de Leiria. Na semana a seguir já tinha onze, mais do dobro. A médica que me seguiu em Coimbra fala em milagre: se o corpo não respondesse tão bem ao tratamento, o cancro tinha-se espalhado e eu não estaria aqui.» A notícia correu como um rastilho na vila de Ourém onde vive com os pais: o telefone a tocar noite adentro; os amigos, a família e a escola mobilizados; desconhecidos que a procuravam porque queriam saber. «Tornei-me uma celebridade no mau sentido, sempre a falar disso quando só pensava em não chumbar. A dada altura tornou-se um sufoco. Chegava de ser tratada como doente.»
Dez anos depois, habituada a gracejar no seu diário acerca de vómitos e perda, criou o blogue Cancro Com Humor, mais tarde página de Facebook, projeto e livro com o mesmo nome. Nem na morte do namorado foi pela revolta. «Conheci o Pedro em 2013, foi dos primeiros carequinhas a dizer-me que encontrava grande sentido no que eu fazia. Na altura superara um cancro na perna e estava bem, ficámos amigos.» Começaram a namorar em 2014, quando o cancro dele se metastizou para o pescoço. «A doença foi evoluindo no nosso tempo de namoro, foi um segundo cancro para mim também. Era difícil mas superemocionante, cada dia uma novidade.»
O que Pedro guardava para si, tímido, extravasava Marine pelos dois. Espantava-lhe os males com o otimismo de que era capaz e escrevia, escrevia sem parar, até hoje, exorcizando os demónios de ambos. «Gozávamos muito com tudo, até morrer em maio de 2015, com 23 anos. Não, não estou grata ao cancro por me ter tirado o meu amor. E não me parece que o perdoe por isso, nunca senti tamanha dor. Mas estou grata à vida por me ter ensinado a cuidar.»
Todos conhecemos as alterações que os domínios do público e do privado têm vindo a registar, sublinha a psicóloga clínica do IPO de Lisboa, para quem o importante é que qualquer uma delas permita à pessoa encontrar os seus recursos para lidar com a doença. «Há quem faça da narrativa uma ferramenta de integração dos acontecimentos de vida. Outras utilizam a participação em grupos de autoajuda, envolvem-se em atividades do quotidiano, de expressão artística ou lúdica.» Vítor Veloso, presidente do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro, confirma a necessidade de se responder mais e melhor às necessidades dos doentes oncológicos e familiares: «Continua a ser um estigma que ainda não conseguimos desmistificar completamente, mas esta ideia tem de ser ultrapassada», diz, à luz das suas três décadas de experiência como médico no IPO do Porto.
Vânia Castanheira teve um primeiro vislumbre deste peso aos 31 anos, altura em que a bomba lhe caiu no colo: tinha cancro de mama triplo negativo, um murro no estômago. «Se me sentia bem, porque é que estava com uma doença que me podia matar? Ainda por cima a morar em São Paulo casada com um brasileiro, longe da família em Portugal. Como dar a notícia aos meus pais e imaginá-los a digerir tudo aquilo? É horrível fazermos sofrer quem amamos.» Era tanto o desnorte que pediu ao marido para guardar segredo, ninguém podia saber. «Só contei à família cinco dias depois, certa do diagnóstico e de que o passo seguinte seguia operar: “Vá, não precisam de fazer cara séria. Estou com um tumorzito no peito. É maligno, mas na semana que vem vou retirar. Estamos superpositivos.” Alguns amigos ficaram ressentidos de não terem sabido antes, mas não há forma boa de dar notícias como estas.»
Aos 34 anos, a coach de saúde e bem-estar dá palestras, escreve livros, tem blogue ativo desde 2013 (Minha Vida Comigo) e inspira milhares de pessoas em todo o mundo a lidar com a doença. Como quando criou o projeto Lenços de Solidariedade, em que foram entregues mais de 13 mil lenços no Brasil e cerca de dois mil em Portugal. «Ao descobrir que tinha cancro achei que fosse mentira. Não queria admitir que o monstro me tinha atacado, parecia até meio vergonhoso. Só me abri nas redes sociais quando senti que tinha uma obrigação de partilhar com o mundo o que aprendi.» Afinal, o blogue revelou-se a melhor terapia que podia ter criado. «Devíamos falar de cancro como falamos de pneumonia: ambos são graves e, se não tratarmos, podemos morrer. No entanto, um diagnóstico não é uma sentença de morte. Tive um cancro, mas eu nunca fui o cancro. Ele não me tinha, jamais.»
Isso mesmo sentiu Paula Lobo, 59 anos quando lhe detetaram cancro dos ovários em janeiro de 2012 (exatamente um ano e um mês antes de perder a batalha, despedindo-se em paz): nunca lhe pertenceu. «Saber que temos cancro, ou que alguém que amamos tem cancro, é das coisas mais difíceis de encaixar na vida. No caso da minha mãe, ela já sentia que tinha algo na barriga mas não disse a ninguém. Tinha dores, um alto e medo, havia muita gente a precisar dela, mas guardou tudo para si. Não falava», conta a filha Marina Lobo, em lágrimas ao recordar a progressão devastadora do tumor. «Ela costumava ir periodicamente ao ginecologista, mas depois concentrou-se em cuidar da sogra e da mãe (que entretanto adoeceram e faleceram uma após a outra), ficou quatro anos sem ir ao médico. E então veio o pesadelo, eu a perceber que a minha mãe tinha um cancro em estado avançado, e que se calhar ia morrer, mas não podia morrer porque viver sem ela não ia dar.»
Paula via vacilar as três filhas, o marido tão perdido, e levantou as armas, recuperando ao fim do primeiro ciclo de quimioterapia. «A esperança esteve sempre connosco, permitiu-nos ter ainda momentos felizes.» Porém, o cancro era demasiado agressivo e acabou por voltar. Em janeiro de 2013, com os médicos a concluírem não haver mais nada a fazer, chamou a família e os amigos para lhes dizer que tinha sido muito afortunada. «Toda a gente foi despedir-se ao hospital, parecia uma festa. Não se ouvia choros (a não ser uns abafados no corredor) e sim risos, gargalhadas.» Por dia passavam dezenas de pessoas naquele quarto, até amigas que não via há mais de 30 anos. «Estava sempre com o seu sorriso gigante, feliz por se sentir amada. Na vida, como na morte, a minha mãe ensinou-me que devemos tirar partido das coisas boas e desvalorizar as más. Tudo estará bem se, na hora de partir, tivermos um jardim florido como o dela.»
Catarina Malheiro também sonhou com esse jardim para a mãe, Luísa, mas viu-se esmagada debaixo de um muro de silêncio. «Quando os médicos vão à televisão só falam do cancro da mama ou do colo do útero, nunca do pâncreas», lamenta, em luto há dois anos após ter sido um pilar de força inquebrantável durante cinco meses e dez dias. «É um cancro muito agressivo, fulminante, não transmite esperança. Mas por matar tanto é que se torna necessário alertar para salvar vidas.» Segundo o médico oncologista Hélder Mansinho, a doença cursa de forma silenciosa e é importante a atenção para sintomas de dor abdominal, perda de peso e más digestões incaracterísticas, que podem levar ao diagnóstico precoce e devolver alguma esperança para o tratamento. Ainda assim, 99% das pessoas não lhe resistem.
«Foi comigo que a minha mãe entrou em coma e teve de ser entubada a primeira vez, comigo deixou de comer e beber. Vivemos tudo aquilo juntas, só as duas. Fechei a loja de artigos de criança para ficar com ela. Hoje tenho 36 anos e sinto que as forças se foram.» Com o irmão a viver em França e a irmã incapaz de encarar aquela morte anunciada, Catarina acompanhou a mãe nas consultas e no internamento. Fez de enfermeira, amiga, confidente. Falava com os médicos e transmitia os vereditos suavemente para não assustar ninguém. Já em 2015, quando começou a conseguir lidar com a perda, criou no Facebook a página Cancro do Pâncreas. «É a única que existe em Portugal sobre este tipo de cancro. A minha avó morreu dele aos 73 anos, a minha mãe aos 77 e não se fala do que os doentes devem comer, o que devem fazer, o que pode ajudar-nos a todos.» Claro que tem medo de vir a ser a próxima, mas é preciso dizer as coisas. C-a-n-c-r-o. Com todas as letras. «É menos duro do que consentir o vazio.»
Falar ou não falar, eis a questão
Robert De Niro. Não quis revelar grandes detalhes aos media quanto ao cancro na próstata, a não ser que que o seu fora descoberto numa fase inicial, em 2003, tinha ele 60 anos, graças aos exames frequentes que fazia depois de o pai passar pelo mesmo. Venceu-o e em 2011 foi pai pela sexta vez.
Alan Rickman. Conhecido como o professor Snape na saga Harry Potter ou o vilão Hans Gruber em Assalto ao Arranha-Céus (1988), tinha 69 anos quando perdeu a luta para o cancro no pâncreas e apanhou os fãs de surpresa. Foi a família que anunciou a sua morte numa declaração breve, respeitando a vontade de manter a doença longe da vida pública.
Lemmy Kilmister. Festejou os 70 anos com amigos, a 24 de dezembro de 2015. A 26 foi às urgências com dores e soube que tinha um cancro terminal na próstata, com metástases até no cérebro. A 28 morreu, deixando o mundo em choque. O músico líder dos Motörhead não escondeu de ninguém. Queria que se soubesse, embora ele próprio tenha sido apanhado de surpresa pela doença.
Reynaldo Gianecchini. Um linfoma não-Hodgkin trocou-lhe as voltas em 2011, forçando-o a passar por quimioterapia e transplante de medula óssea, ao mesmo tempo que revia o modo como queria viver dali em diante. Venceu oito meses mais tarde.
Gonçalo Diniz. Publicou uma foto no Instagram, a rir de cabeça rapada, mas o único comentário foi o de que se trata do visual para a próxima novela. Não se pronuncia sobre o cancro nos testículos de que tanto se fala: o que se sabe tem sido divulgado por fonte próxima do ator, que vai ser pai em breve.
António Feio. Perdeu a irmã para o cancro no pâncreas e descobriu que também tinha um, afinal as dores de estômago tinham outra razão de ser. Fez quimio e radioterapia. A família soube toda ao mesmo tempo: estava junto dele quando recebeu a notícia. Sem alardear, foi falando disso com humor até morrer, em julho de 2010, aos 55 anos.
Partilhas em rede
Para uma doença longa e confusa, o melhor remédio pode ser a rede social FalarSobreCancro.org, nascida para a troca de informações e experiências entre doentes oncológicos, familiares, amigos, profissionais de saúde, investigadores e voluntários. «O cancro é a segunda maior causa de morte em Portugal e aquilo a que assistimos, cada vez mais, é a um aproveitamento enorme da dor e do desespero do paciente por parte de terceiros, potenciado pela quantidade de desinformação que a internet muitas vezes nos fornece», justifica Rui Oliveira, docente da Universidade do Minho e responsável pelo desenvolvimento da plataforma, a par de Nuno Martins, professor do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. Nuno estudou o trabalho de comunicação de cidadãos e instituições na luta contra o cancro através dos media participativos online, fez disso tese de doutoramento e abriu caminho ao projeto. Por seu turno, a FalarSobreCancro.org trouxe novo input à investigação, centrada agora no estudo de uma solução prática que ajude a comunidade oncológica na luta contra a doença. O principal parceiro é o IPO do Porto, com os seus pacientes e clínicos a participarem ativamente nos estudos, testes e avaliação de soluções para a plataforma web.