Chegaram carregadas de ambição, a bagagem farta em ilusões, a fé de encontrar em Portugal a vida que lhes andava a escapar por entre os dedos. Acabaram violentadas, de todas as formas possíveis, o desamparo a fazê-las mais vulneráveis, a solidão da distância a torná-las mais reféns dos agressores. Rosa Clara veio de Angola, Rosa Carmim partiu de França, Orquídea chegou do Brasil, Rosa Forte fugiu do Kosovo. Nas histórias que se seguem, serão chamadas assim, pelo nome das flores que lhes sabem a conforto. Como um ténue fio de esperança que as arranca aos dias de desespero.
“Dizia que me atirava pela janela, que me partia os dentes”
Há dias tenebrosos, sufocantes, impossíveis de apagar. Para Rosa, Rosa Clara, foi aquele 18 de julho, ainda não vai um ano. Eram as férias de verão, os garotos passavam o dia acabrunhados em casa dos avós, ela não se conformava, preparou-lhes os sacos para irem duas semanas para casa de um primo.
Ele, pai das três crias, companheiro de uma vida levada aos repelões, não estava pelos ajustes, não concebia aquela ideia de os deixar ir, entrou por ali dentro como um furacão, atirou tudo raivosamente para o chão. Rosa ainda ignorou, baixou-se para rearrumar tudo como quem rearruma a vida. Só que ele estava desvairado, vinha para magoar, agarrou-lhe a cabeça e bateu-lhe pelo corpo fora, não parou até a deixar feita em pisaduras, os filhos, impotentes, a ver tudo.
Os sogros ainda apareceram, viviam todos em casa deles, chegou a crer que vinham para a ajudar, mas não. Ali ficaram, a insultá-la e a vexá-la, como se aquele arraial de porrada não fosse já suficiente humilhação. “Que raça, que raça, fiteira, fiteira”, repetiam, pelo menos é disso que se lembra, ela estava feita num pranto, há detalhes que nem sabe precisar.
A vida com ele não tinha sido sempre assim, em Angola não lhe batia, foram 14 anos de uma vida em conjunto, mas o álcool, maldito, o álcool já era um problema. Há três anos decidiram vir, o marido tinha nacionalidade portuguesa, mudaram-se para a casa dos pais dele, Rosa queria muito trabalhar e dar aos meninos a educação que lhe roubaram quando a obrigaram a parar a escola na quarta classe. Mas ele não aceitava.
“Queria que ficasse em casa a tomar conta dos filhos, a mãe dele apoiava, eu dizia-lhe que não, que tinha de trabalhar, que não tinha deixado África para ficar em casa sentada.” De pouco servia. Ele não lhe tratava dos documentos, ela tampouco sabia como o fazer, continuava ilegal, de mãos e pés atados, refém dele e de um sonho que saiu furado.

Quando chegaram ainda parecia tudo bem, tirando o álcool, claro, e a droga, e ele a ficar mais violento de cada vez que os dias resvalavam para os vícios. “Mas só me começou a ameaçar aqui. Dizia que me atirava pela janela, que me partia os dentes.” E ela sempre enclausurada, sem trabalho ou dignidade.
“Tinha de estar sempre em casa, a minha sogra saía para ir às compras e não me levava, só me chamava para a ir ajudar com os sacos quando chegava a casa. E diziam que não podia tomar banho todos os dias, só uma vez por semana, desligavam a água quente, eu de manhã aquecia a água na panela e molhava-me com uma caneca, às vezes até a panela escondiam.”
E assim se passaram quase três anos, até que as cunhadas (irmãs dele) se meteram, não se conformavam com aquilo, decidiram ajudá-la. “Uma delas ofereceu-me um contrato de trabalho para poder tratar dos documentos.” Ele, claro, explodiu. Ligou-lhe a desatinar, bramiu, berrou, insultou-a do piorio. E a sogra sempre a complicar.
Rosa pediu-lhe que ficasse com o pequenito enquanto trabalhava e ela deu-lhe um redondo não, “porque não era obrigação dela”. Valeu-lhe a cunhada a fazer finca-pé e a obrigar o irmão a chegar-se à frente para pagar a creche. Ele lá lhe fez a vontade, mas pouco e mal.
“Disse-me logo que tinha pago aquele mês mas não ia pagar mais, que pagava eu e que queria ver com quanto dinheiro eu ia ficar depois disso.” O propósito era maquiavélico. “Estava a fazer tudo para eu desistir.”
Mas não conseguiu. Desistir, só dele, e só depois daquele doloroso 18 de julho. “Fui para casa do meu primo, vi que tinha o corpo cheio de manchas negras e apresentei queixa.” Desde então está com os meninos numa casa-abrigo, onde por fim a estão a ajudar a tratar dos documentos que nunca teve. O futuro? “Preciso de andar para a frente. Quero trabalhar, cuidar dos meus filhos, ter a minha casa.”
“Prometeram-me vida de princesa. Acabei numa casa-abrigo”
Para Rosa Carmim, aquele primeiro dia em Portugal, há ano e meio, mais coisa menos coisa, foi como um interruptor kafkiano. Em França, ele era normal, tratava-a bem, chegou a prometer-lhe mundos e fundos. Conheceram-se na Bretanha, ele era português, mas estava a trabalhar lá e assim seria até perder o emprego e decidir voltar para cá, para abrir um negócio de família, uma padaria.
Rosa veio com ele, lá trabalhava numa loja de roupa, também já tinha passado por vários restaurantes, dava para sobreviver, mas sempre ganhou pouco. E então agarrou-se àquela mudança como quem se agarra à fé. “Em França não lhe via nenhum problema, mas no primeiro dia cá… fuuu.” A frase fica pela metade, Rosa bufa, abre muito os olhos, faz um gesto dramático com as mãos e retoma o fôlego.
“No primeiro dia cá vi todos os problemas.” As drogas, o álcool (“Lá bebia uns copos com os amigos ao fim de semana, nada de mais, cá, no primeiro dia, bebeu uma garrafa de uísque como se fosse água”) e pior, a violência. “Logo no primeiro dia fomos a um café com um amigo dele e quando chegámos não vinha contente. Disse que eu tinha estado a falar com outro homem, que Portugal era muito diferente, que não podia falar com outro homem. E bateu-me.”
Rosa estacou, em choque, incapaz de perceber de onde tinham saído aqueles demónios que ela nunca antes vislumbrara. Dois ou três dias depois, ele jurou arrependimento, pediu desculpa, disse que não sabia porque o tinha feito, prometeu que ia parar de beber, que ia parar com a droga também. E durante três meses cumpriu. Mas também não abriu padaria nenhuma. E então passavam os dias enfiados em casa, a mãe dele levava-lhes as compras, ele volta e meia ia passar umas semanas a França para trabalhar.
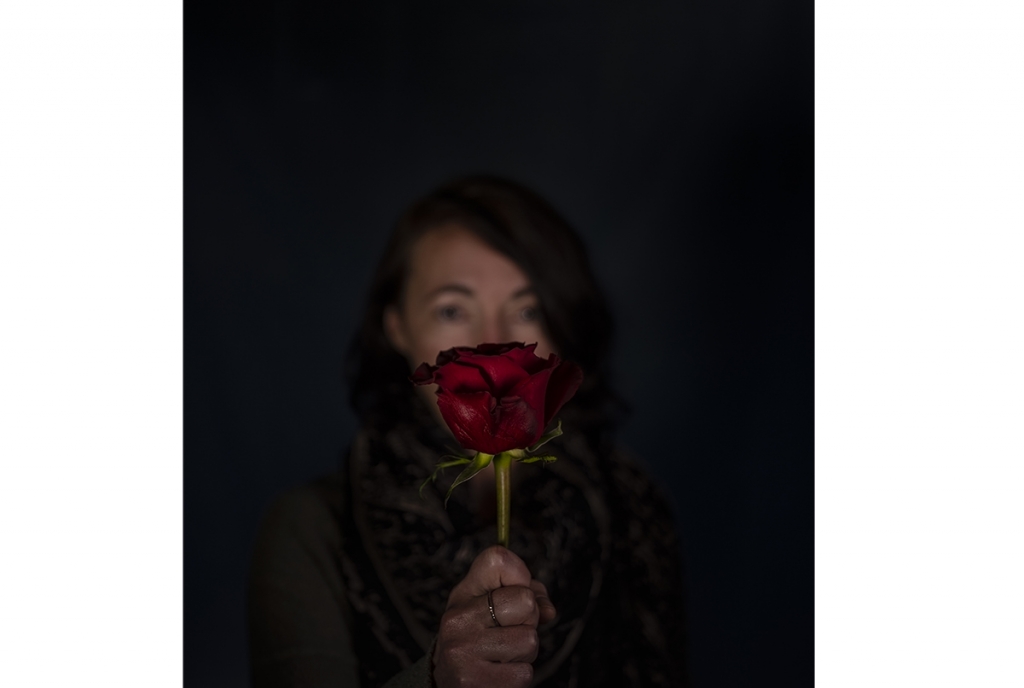
Mas a ela, aquela vida nunca lhe soube a aconchego. Porque apesar de ele não lhe ter batido durante meses, foi muitas vezes agressivo, por tudo e por nada. “Porque eu não queria fazer a comida, porque a comida não estava boa, porque não queria ter relações. Bastava uma coisa pequena e ele explodia.” Já para não falar que não a deixava sair. E que mesmo quando estava fora ela ficava trancada, a sogra a ir vigiá-la aqui e ali.
“Podia tentar sair pela janela, mas não falava português, não conhecia ninguém, não podia fazer muito”, vai contando, entre o francês e um tímido português. Num momento de fúria, chegou a partir-lhe o telemóvel. Às vezes lá lhe emprestava um outro, mas sem cartão. Só para poder aceder à Internet.
Sabia que de cada vez que ele ia para França trabalhar retomava os consumos. Cocaína, heroína, álcool. Mas quando voltava parava. Pelo menos, sempre lhe pareceu que sim. Só que da última vez, em julho, não parou. E então voltou à violência física, bateu-lhe mesmo muito, ela a ir com ele ao café toda pisada e as pessoas da aldeia, uma pequena aldeia do distrito de Vila Real, a fazerem vista grossa. Nos dias seguintes, voltou a ameaçar.
E ela fez-lhe um ultimato: não toleraria mais aquilo, era ponto assente. Mas nem isso o demoveu. Três semanas depois, novo capítulo de terror. E ela sem se deixar ficar.
Primeiro, ficou-lhe com a chave, que ele, à custa da embriaguez, deixara esquecida na porta. Ainda esperou que as coisas acalmassem, mas em vão. Nesse mesmo dia, ele voltou à carga. E ela saiu porta fora, determinada a deixar os horrores para trás.
Nem isso foi fácil. Porque quando se dirigiu ao café mais próximo a pedir para chamar a Polícia, o dono do estabelecimento não a entendeu. E quando entendeu, à custa de um cliente que percebia francês, não o quis fazer. Lá ligou, por fim, ao cabo de insistentes apelos. “Prometeram-me uma vida de princesa. Et voilà, agora estou numa casa-abrigo”, resume Rosa, as mãos a tremer desgovernadas, ela a rir, a rir de nervos.
“Pedi muitas vezes a Deus para mudar o meu marido”
Quando, ainda no Brasil, o primeiro marido a trocou pela melhor amiga e lhe começou a dificultar as visitas aos filhos, parecia que a dose de amarguras conjugais que lhe estava reservada se esgotara ali, que não havia mais desgostos por viver. Mas achar que a vida não pode ser mais madrasta é quase sempre um convite a novas dores de alma.
Orquídea soube-o mais tarde, depois de se mudar para Portugal, em 2014 ou 2015, nem sabe bem, sabe que vinha com a obstinada intenção de juntar dinheiro e regressar, de “ter uma vida melhor”. Primeiro, fez uns biscates. Depois, foi tomar conta de uma idosa. “Queria juntar dinheiro, mas acabei por perder o foco.”
Certa noite, foi para o Bairro Alto, Lisboa, com as amigas, eram os Santos Populares, conheceu um rapaz. E ele era giro, mesmo giro. E era alegre, e divertido, e carinhoso, e atencioso, e romântico, “parecia mesmo o príncipe encantado”.
Pelo menos foi o que ela achou na altura. Hoje percebe que enviesou a narrativa desde o princípio, que deixou passar todos os sinais. “Começou a ficar muito no meu pé, mandava-me mensagens a toda a hora, queria-me ver todos os dias, não me deixava respirar. Mas eu era ingénua.”
Ainda por cima ele jurava que tinha sido amor à primeira vista, “dizia tudo o que a gente quer ouvir”. E então marcaram encontro, vários, envolveram-se, começaram a namorar. “No início foi uma história bonita.” Ele era um doce, dava-lhe flores atrás de flores, ela andava tão cega de amor que nem desconfiou quando ele deu um soco a um homem num bar só porque estava a olhar.

Passado uns meses, não sabe quantos, só sabe que foi tudo muito rápido, engravidou, saíram para festejar, era para ser um dia tão feliz, acabou a ser o dia mais triste, o primeiro em que ele lhe bateu. “Fomos sair com uma amiga muito carinhosa e, quando estávamos a ir para casa, ele foi a viagem toda a chamar-me nomes, a dizer que era uma pouca-vergonha. Eu não entendia nada, ainda por cima a minha amiga gosta de homens.”
Quando chegaram, ainda foi pior. “Deu-me um chuto no rabo e quando fui cobrar começou a bater-me, a dar-me tapas na cabeça, a xingar-me de muitos nomes, cheguei a cair por cima de umas caixas. E já estava grávida.”
Depois acalmou, durante uns tempos. “Mas ficou muito abusado quando arrumámos uma casa só para nós, era uma violência atrás da outra.” Na altura, já tinham a filha, mas ela nunca foi impedimento para nada, assistiu às agressões vezes sem conta. E tudo era pretexto para discutir, “ele caçava conflitos por tudo e por nada”. Se Orquídea dizia que queria ir trabalhar, ele dizia que não, que ficasse a tomar conta da filha.
Depois, com os copos, gritava-lhe que não era obrigado a sustentá-la. Outras vezes eram os ciúmes, chegou a partir-lhe o telemóvel. A dada altura, bateu-lhe tanto que ela ficou dolorosamente pintada de roxo, “a pequenina só gritava”. Mais para o fim eram também os jogos psicológicos, a manipulação.
E ela sempre agarrada à ideia de que ele ia mudar. “Primeiro não me passava pela cabeça separar-me dele, pensava que tudo ia melhorar, pedia muitas vezes a Deus para mudar o meu marido.” Mas às tantas até o corpo dela o começou a rejeitar. “Quando chegava perto dele começava a tremer, faltava-me o ar.” E então inventava desculpas para dormir com a filha e ele ter de ir para o outro quarto.
Andaram assim um ano. Chegou a ir à esquadra várias vezes, mas depois tinha medo de avançar. Medo por não ter um pé-de-meia, por não conseguir pagar uma creche, por estar dependente dele. E nisto, sentiu-se enlouquecer. “Cheguei a achar que a culpa de tudo o que estava a acontecer era minha.” Até que a raiva dele começou a resvalar também para a filha. E aquele medo foi maior do que todos os outros medos.
“Violou-me à frente da minha filha, com uma faca na mão”
Há vidas que já nascem do avesso. Com Rosa Forte foi assim. Nasceu no Kosovo, numa família pobre, não pôde ir à escola, na verdade nunca pôde nada. O pai vendeu-a para casar tinha ela 13 anos, era uma garota, ele era dez anos mais velho, ela não fazia ideia para o que ia, viu-o pela primeira vez no dia do casamento, tinha tudo para correr mal. E correu. Mas só ao fim de duas décadas. “Durante 20 anos, estive muito bem com ele, nunca me tratou mal, sempre gostou dos filhos.”
Tiveram quatro, duas meninas, dois meninos, o último já em Portugal. Antes, o pai já vinha trabalhar para cá. Em 2012, ficou de vez. Em 2015, Rosa veio também, mais os três filhos. Ilegalmente, pois. Passou pela Sérvia, pela Hungria, pela Áustria, sabe os países de cor, pela Itália, pela França, por Espanha. Chegou a passar dois dias no meio de um monte na Hungria. Mas chegaram sãos e salvos. E puderam ficar, como refugiados. Mudaram-se então para uma vila do distrito de Braga e até tiveram mais um filho.
Mas depois começaram os problemas no Kosovo. A família dela contra a dele, armas, o irmão dele preso, uma confusão tal que chegou a ser notícia. Rosa vai mostrando os prints no telemóvel, enquanto repete “grave, grave, muito grave”. Uns tempos depois, o marido começou a mudar. Bebia, enfurecia-se, dizia-lhe que não prestava, o patrão dele chegou a ligar a Rosa a perguntar por que raio ele não aparecia. Ela estranhou, ainda por cima ele continuava a sair de casa todos os dias, ela não teve mais nada: seguiu-o.
A perseguição levou-a à casa do irmão, que afinal não estava preso, nem sequer no Kosovo. Rosa ainda tentou chamar o marido à razão, perceber porque passava os dias a beber, implorar-lhe que não desse ouvidos ao irmão. Mas ele não fez caso. E pela primeira vez em 20 anos bateu-lhe. Ela caiu no chão e ali ficou, depois voltou para casa lavada em lágrimas.

O pesadelo ainda mal tinha começado. Entretanto, o marido apareceu em casa, garrafa na mão, a gritar-lhe que ela ia pagar pelas desavenças do Kosovo. Descontrolado, pegou no computador de uma das filhas e espatifou-o contra o chão, gritou-lhe que não iria mais à escola, bateu-lhe (à filha), chegou a apontar-lhe uma faca. Mas Rosa conseguiu desarmá-lo. E ele desfez-se num pranto.
“Disse-lhe que íamos procurar um médico para o ajudar.” Mas de nada serviu, a cena repetia-se em loop. “Ele trabalhava um dia e ficava em casa cinco. As meninas tinham de ir à escola às escondidas.” E Rosa a adiar o inadiável. “Para nós, imigrantes, é mais difícil fazer alguma coisa. Não falamos bem a língua, não conhecemos ninguém, não há ninguém a dizer ‘tu vais conseguir, tu és forte’.”
Até que um dia, “este dia não posso esquecer nunca”, ele lhe anunciou que a filha já estava vendida, para casar no Kosovo. Rosa encolerizou-se, não podia crer, logo ela que tinha fugido para livrar as filhas daquilo. “Prefiro morrer a deixar-te vender a minha filha.” Seguiram-se cenas intermináveis de pancadaria, gritavam as crianças, gritava Rosa, ele atrás dela com uma faca a dizer que a ia matar, ela jura que já nem temia por ela, só tinha medo que os filhos vissem o pai matar a mãe e que aquela imagem não os largasse mais.
Por isso, ainda os levou para a garagem. Mas quando achava que ele já estava profundamente adormecido e que finalmente poderiam fugir, voltou a atacá-la. “Agora vais pagar por tudo”, dizia, a rir muito alto, um riso velhaco. Então pegou nela e na mais velha e levou-as para o quarto. “Violou-me à frente da minha filha, com uma faca na mão. E ela estava ali, ó meu Deus, este dia não posso esquecer.”
E Rosa desaba num choro sufocante, as mãos a abanar de forma descontrolada, ela tomada por um pânico que a faz desmoronar: “Só tenho medo que o deixem ver as filhas e ele fuja com elas para as vender.”













