O fim ansiado da pandemia não é uma realidade. E a explosão de infeções é a prova disso. O lado imprevisível de um vírus teimoso não deixa margem para promessas. Mas a esperança mora aqui: os especialistas arriscam que 2022 será o ano. Até lá, vivemos uma nova fase, com uma variante que em tudo parece menos grave, com menos isolamentos e mais liberdade. Um futuro que dá ares de alívio.
O ponto final na história de uma pandemia que já leva quase dois anos, com a endemia à vista, ainda não se escreveu. Mas 2022 bem pode ser o ano, se nos agarrarmos à esperança, a mesma que tem a Organização Mundial da Saúde (OMS), de chegarmos aos 70% da população vacinada em todos os países ainda no verão.
O ano arrancou com uma chuva de casos de covid-19, os números a bater nos píncaros, à boleia da ómicron, detetada em mais de 90 países, a variante com a propagação mais rápida da história. Não será a última. Um milhão de infeções num só dia, o recorde mundial, eram as contas nos Estados Unidos nesta semana. Por cá, aponta-se para os cem mil casos diários em finais de janeiro. Ainda não é tempo de baixar a guarda, avisam os especialistas.
Ainda assim, vivemos uma nova fase, ninguém o nega. O Mundo gira e reorganiza-se. Menos tempos de isolamento, menos medidas apertadas. A ómicron, apesar de mais contagiosa, é mesmo mais ligeira? É a luz ao fundo do túnel? Ou as surpresas de novas variantes, os negacionismos, as desigualdades entre países não nos vão deixar cortar a meta?
“É claramente uma fase diferente, sem a gravidade de outras vagas, e de uma evolução para endemia. Mas não estamos ainda lá. É preciso não desvalorizar o facto de estarmos com números que exigem preocupação. Temos muito menos óbitos e muito menos doentes em cuidados intensivos, mas não deixamos de ter muitos a precisar de cuidados médicos. É preciso manter os cuidados”, avisa Carlos Robalo Cordeiro, diretor do serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e membro do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos para a covid-19. A verdade é que se estão a bater valores históricos de novos casos, “não estamos é a ter as mesmas consequências em gravidade, o que se deve claramente à vacinação, e isso transmite algum conforto e a ideia de que estamos a caminhar para uma endemia”.

(Foto: DR)
Mas, afinal, o que é uma endemia? “É uma situação muitas vezes sazonal, com características conhecidas e não com esta imprevisibilidade de agora. É o que acontece com o vírus da gripe, com o qual convivemos naturalmente, que conhecemos e que sabemos que circula nesta época.” A endemia é ainda uma doença que não causa excesso de mortalidade. E o futuro será a covid circular entre nós como apenas mais uma doença respiratória sazonal.
Entrar em endemia até ao final do ano não parece irrealista. Só que é preciso cautela, não nos deixarmos cair em ilusões com a ómicron. Rogério Gaspar está em Genebra, Suíça, é diretor do Departamento de Regulação e Pré-Qualificação de medicamentos, vacinas e produtos de saúde da OMS. Anda num corrupio, afundado em trabalho, só consegue tempo já depois de jantar. O português, farmacêutico com mais de duas décadas dedicadas à área da regulação, tem mais dúvidas do que certezas. “Não passou tempo suficiente nem temos indicadores que nos permitam retirar uma conclusão definitiva. Não nos podemos iludir por um primeiro resultado em populações muito jovens ou com elevada taxa de vacinação, em países com sistemas de saúde robustos. Aparentemente, a evolução clínica da ómicron é mais benigna. Mas falta conhecer o impacto em populações mais idosas e não vacinadas.”
Ainda não podemos respirar de alívio e Gustavo Tato Borges, vice-presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, subscreve a tese. “Não há dados suficientes que consubstanciem que estamos a entrar numa endemia. É muito cedo. É preciso esperar pelas próximas semanas para termos a certeza de que esta estirpe é efetivamente mais ligeira.” Numa janela temporal, talvez o verão nos permita entrar numa fase propícia ao fim do período pandémico. Só que é uma incógnita. E a entrada em endemia também vai depender do resto do Mundo. Surgindo uma nova variante, que pode ser mais agressiva, deita tudo por terra. Já lá iremos.
Menos isolamento, mais autogestão
Certo é que, em Portugal e lá fora, as medidas têm vindo a ser aliviadas, sem confinamentos desenfreados a reboque de números recorde. Continuamos a trabalhar, a sair de casa, a ir a restaurantes, a espetáculos, a viajar. Raquel Duarte, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, defendeu isso mesmo na última reunião entre Governo e especialistas no Infarmed. “Estamos em pandemia, continuamos a ter transmissão comunitária, é importante sublinhar isso. Aquilo que entra agora é o aumento da responsabilização individual”, diz.

(Foto: David Tiago/Global Imagens)
A pneumologista traz para cima da mesa a ideia da “autogestão”, que mais não é do que a importância de cada um ser capaz de autoavaliar os riscos, ter a iniciativa de fazer autoteste tendo estado com um caso positivo ou quando vai a eventos sociais e familiares, de identificar os seus contactos. “Temos uma população que tem tido uma boa perceção de risco e tem adequado a adesão às medidas de forma proporcional. Agora, além das medidas gerais, é importante aumentar a autonomia de cada um neste processo.” Isso e a capacitação da população com informação clara sobre como atuar em caso de resultado positivo.
Um pouco por todo o Globo as restrições começam a dar folgas. É uma nova vida, a querer tomar o pulso à normalidade. Os Estados Unidos reduziram o período de isolamento para cinco dias para quem testa positivo e não tem sintomas, à semelhança da Madeira e dos Açores. Na Europa, França, Espanha, Reino Unido reduziram para sete dias o isolamento. Tal como em Portugal, onde a quarentena para casos assintomáticos ou com sintomas ligeiros caiu para sete dias. Entre os contactos de risco, os vacinados com a dose de reforço e os recuperados da covid nem precisam de se isolar. É o caminho?
Raquel Duarte acha que sim. “Perante esta variante, em que acabamos por ter uma grande transmissão na comunidade mas com menor probabilidade de formas graves e morte, é preciso rever o conceito de isolamento.” A mudança de estratégia parece natural aos especialistas. Aliás, segundo Miguel Castanho, virologista e investigador do Instituto de Medicina Molecular, “devemos adaptar as ações à realidade de hoje”. A ómicron tornou-se dominante, “e tem características diferentes, desde logo um tempo de incubação menor”. “Os dados apontam para a redução da necessidade de hospitalizações. A realidade já não é tão severa. Além da vacinação, que não tínhamos no inverno passado.”
A mudança vem a reboque da ciência. E a evidência mostrou que uma pessoa positiva vai perdendo a capacidade de infetar os outros. Gustavo Tato Borges faz rewind na linha do tempo. “Já mal nos lembramos que no início da pandemia eram precisos dois testes negativos. Depois, percebeu-se que já não se é capaz de infetar ao fim de dez dias. Agora, o contágio acontece dois dias antes dos sintomas e três dias depois. E se não tivermos sintomas a probabilidade cai.” O aliviar das regras, para o especialista em saúde pública, não foi uma mudança perante a doença, mas um avanço perante a ciência. E uma gestão natural face a sistemas de saúde e economias em provação há meses. As estimativas apontam para uma escalada exponencial de portugueses em casa nas próximas semanas.

(Foto: Artur Machado/Global Imagens)
A hipótese da infeção natural, de deixar o vírus espalhar-se naturalmente nesta fase, que ainda pairou sobre os noticiários, é rejeitada por todos. Sem hesitações. Tato Borges até admite que “em teoria, ganhamos bons anticorpos com a doença”. Só que, na prática, o risco é “muito grande, por causa dos mais vulneráveis e da incapacidade de conseguirmos prever esta variante”. Já para não falar da covid longa, do que significa a infeção a longo prazo. “Há atletas de alta competição que nunca mais conseguiram atingir a mesma capacidade física. Ou doentes ligeiros que continuam com dificuldades respiratórias, cansaço. Para controlar isso, temos de acabar rapidamente com os novos casos.”
Precipitada, é assim que o cientista Miguel Castanho define a ideia. “Estamos a lidar com quantidades massivas de pessoas infetadas. São pessoas em algum tipo de sofrimento, em absentismo, em confinamentos forçados. Além do impacto que teria nas hospitalizações, é imprudente recomendar a infeção natural.” E Rogério Gaspar, da OMS, é implacável: “Se há quem defenda essa estratégia, a primeira coisa que deviam fazer era falar com familiares de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos. Não é ético”.
Novas variantes e a espera que não acaba
A ómicron parece, para já, poupar-nos nos sintomas, mas nada garante que estejamos na reta final, no último sprint. Ainda há dias surgiu uma nova estirpe em França, a IHU. “É menos provável que apareçam variantes que batam as anteriores na gravidade da doença. A tendência lógica, natural, é que as variantes que consigam ser muito transmissíveis e que poupam o hospedeiro, ou seja, que causam doença menos severa, se sobreponham. Porque é a melhor forma de o vírus se multiplicar”, explica o virologista Miguel Castanho. Contudo, neste caminho, pode vir uma estirpe que baralhe a tendência. A variante delta, por exemplo, fugiu à lógica. E o SARS-CoV-2 ainda é muito recente nos humanos para se arriscar prognósticos.
Raquel Duarte sabe que “esta não será seguramente a última variante”. Enquanto houver população por vacinar, vírus a circular, as novas estirpes vão continuar a aparecer. Mais benignas ou mais severas. A ómicron não evoluiu das variantes anteriores, tem uma evolução paralela. Não percorrendo o caminho natural de uma variante para a outra, tudo o que aí vem é uma nuvem cinzenta.
Os olhos postos no Mundo, numa desigualdade abissal. Segundo a OMS, no final de 2021, 94 países tinham menos de 40% da população vacinada contra a covid-19. E há 23 abaixo dos 10% de cobertura vacinal. As zonas do Globo com baixas taxas de vacinação são terreno fértil para o vírus continuar a reinventar-se e a fazer-nos voltar a vidas em suspenso. Índia, África do Sul, as variantes chegam de países e continentes pouco vacinados, a única exceção à regra talvez tenha sido a inglesa. “Temos de olhar para as áreas do Mundo mais desfavorecidas se queremos reduzir o risco das novas variantes”, aponta Miguel Castanho.
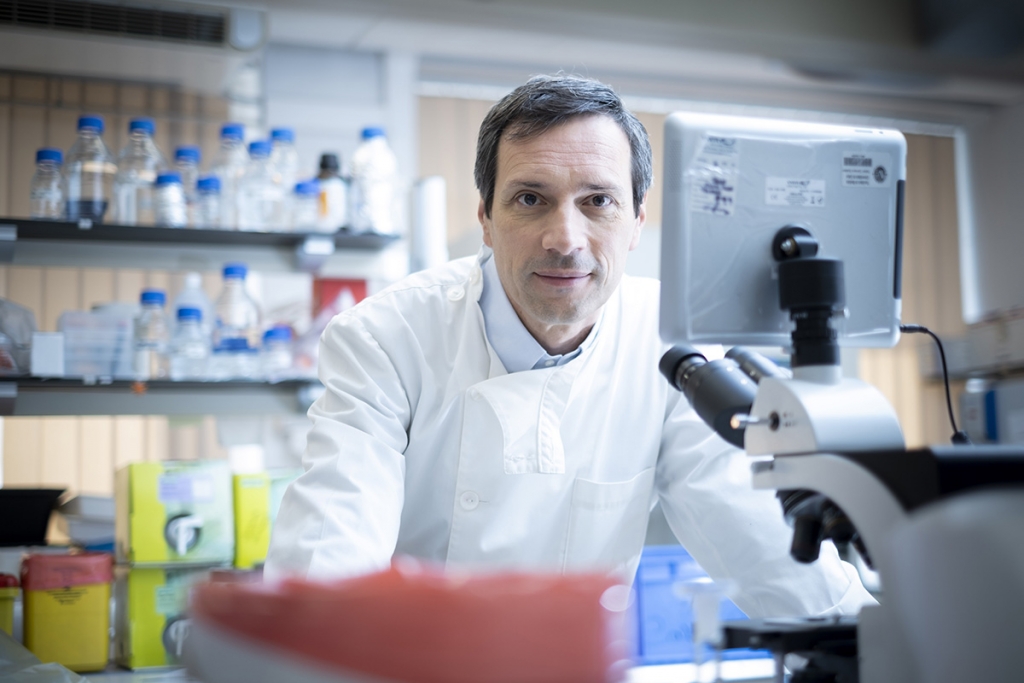
(Foto: Filipa Bernardo/Global Imagens)
Na OMS, um objetivo: até 1 de julho atingir os 70% de população vacinada em cada país. Se é viável? “Em 2021, multiplicámos por dois a capacidade mundial de produção de vacinas. E continuamos a aumentar. Estamos a aproximar-nos de um momento em que há quantidade suficiente de vacinas. Não podemos é continuar a dar prioridade a populações que não estão em risco”, refere Rogério Gaspar. Há países já a vacinar com a quarta dose quando em África existem nações com 90% da população sem vacina. Mas o Mundo vai ter de dar as mãos se quiser dar o golpe final.
Inverno de 2022 é o futuro?
Num mar de incertezas, a esperança é, afinal, a última a morrer. Chegaremos à endemia, caminharemos para lá. O aparecimento de antivirais, de anticorpos monoclonais, que bloqueiam a progressão da doença, de vacinas de segunda geração mais eficazes vão ajudar, e muito. “Há fármacos neutralizantes em desenvolvimento, que têm demonstrado nos ensaios finais uma grande prevenção de doença grave, se forem tomados quando surge a infeção. Seguramente aparecerão já este ano, o que nos traz muita esperança”, realça o pneumologista Carlos Robalo Cordeiro, que apela, para já, à vacinação. Os dados são claros: quase 90% dos internados em cuidados intensivos em Portugal não estão vacinados, segundo o secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales.
Entre doses e reforços, com a queda da imunidade, a vacina não nos há de largar tão cedo. Mais lá para a frente, o investigador Miguel Castanho admite a hipótese de uma vacina periódica. “Não acho que vá ser anual como na gripe. Diria que terá o espaço de alguns anos.” O médico Gustavo Tato Borges arrisca na vacinação anual apenas para grupos de risco. “Se não houver uma vacina de segunda geração, que possa impedir a transmissão da doença, a realidade mais provável é que anualmente idosos e doentes sejam vacinados. Mas isso só a ciência nos dirá com o tempo.”
Olhando para trás, a ciência deu-nos respostas, tantas. “Hoje temos ferramentas ao nosso dispor que não tínhamos há um ano e que nos permitem lutar muito melhor.” É Raquel Duarte quem o diz. “Temos a tecnologia das vacinas, a capacidade de testagem, sabemos como o vírus se transmite, as medidas para cortar a cadeia de transmissão.”
O SARS-CoV-2 não nos vai abandonar, “está na comunidade à escala global”, alerta Rogério Gaspar. Mas já se avizinha a normalidade? O responsável na OMS admite o fim da pandemia e o início da fase endémica antes do final do ano, mas só se houver mobilização para vacinar os países mais pobres. E se a “infodemia” que abunda pelo mundo virtual abrandar. “É surpreendente como, em determinados países, populações tão grandes não querem ser vacinadas. Estamos perante uma nova realidade, que é a dinâmica das redes sociais e que tem gerado resistência, apesar de nunca termos tido uma mobilização tão grande da comunidade científica e dos meios de comunicação social no sentido de esclarecer.”

(Foto: Salvatore Di Nolfi/EPA)
No campo das certezas é aí que joga o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Robalo Cordeiro. “Ultrapassada esta vaga, não havendo nenhuma surpresa com uma nova variante, e promovendo-se o processo de vacinação globalmente, estamos em condições de olhar para o final da pandemia. Não tenho a menor dúvida.” Talvez o próximo inverno já seja abraçado pela tão ansiada normalidade. Tato Borges arrisca que “se a situação melhorar de forma substancial durante os meses de verão, o inverno já será relativamente normal”. E Miguel Castanho acredita que “2022 tem todas as condições para chegarmos ao fim da fase pandémica”. Mais certo ainda é que as emergências de saúde pública não vão ter fim. E há que retirar lições, pelo menos é isso que defende Rogério Gaspar. “A grande lição é que, enquanto sociedade e civilização, não ganhámos o combate às doenças infecciosas. Tem havido um desinvestimento nesta área nas últimas décadas. E isto é um alerta.”













