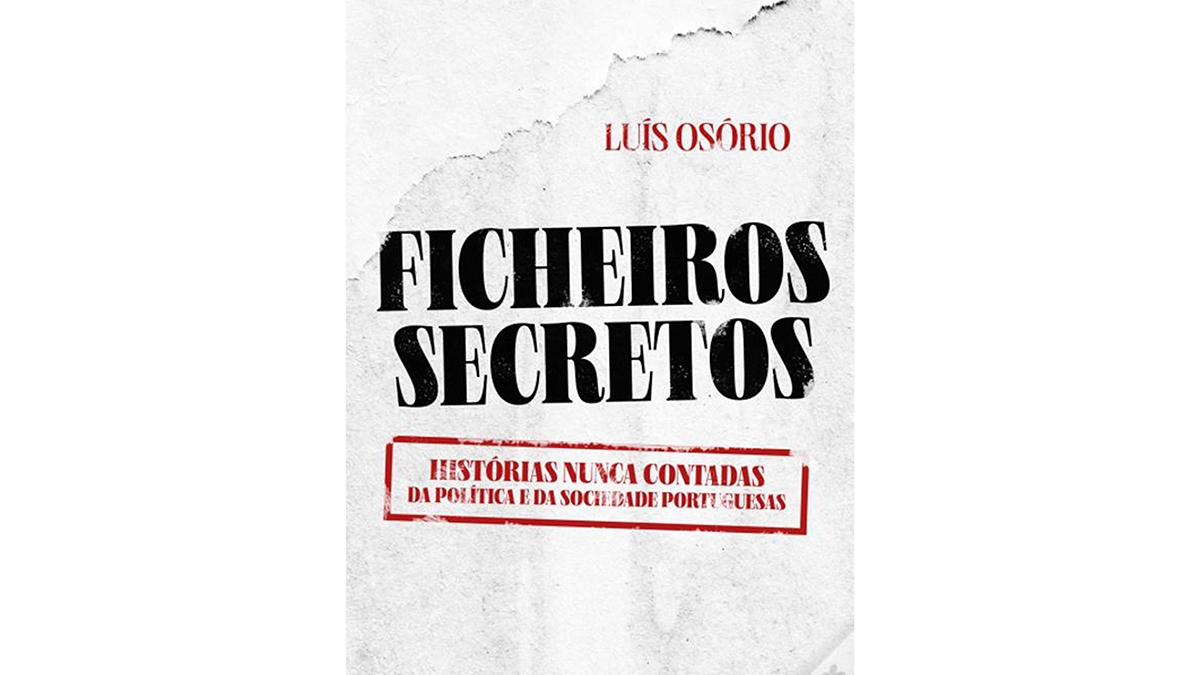
Amália não gostava de vinho, Alberto João Jardim cantou para Salazar, Eduardo Lourenço só começou a escrever quando os pais morreram, Simone de Oliveira deixa sempre uma luz acesa, Cunhal e Soares não falaram de revolução no último encontro antes do 25 de Abril. O escritor Luís Osório resgata histórias do que estava por contar. Do que permanecia entre quatro paredes.
Escrever para escavar. Escavar para contar. Contar para ficar. Perpetuar. Camada a camada. “Ficheiros secretos – Histórias nunca contadas da política e da sociedade portuguesas” é o mais recente livro de Luís Osório. Uma obra que é uma viagem feita de conversas informais, trabalhos profissionais, encontros, acasos, relações de confiança, cumplicidades, com figuras marcantes da História do país. São 50 crónicas em 215 páginas.
Maria Barroso votou contra a fundação do PS. Cunhal deu explicações a Soares. O rapaz a quem Eanes amansou com um almoço. Francisco Louçã não aceitou ser “corrompido” para dizer merda. Estes títulos, tal como estão, são portas que se abrem para histórias que fazem um país. O nosso país. Como um desafio, redige o escritor, de “desvendar acontecimentos no fundo do baú do que está por contar, ficheiros que pertencem à categoria do que não é importante”. Ou talvez seja. O que se disse, o que não se disse, os silêncios, as descobertas nas entrelinhas, vitórias e derrotas, desencontros, absurdos ou nem por isso.
O último encontro entre Mário Soares e Álvaro Cunhal antes do 25 de Abril é a primeira história do livro. Encontraram-se a 12 de setembro de 1973, em Paris. Soares, o “patrono das dúvidas”. Cunhal, o líder comunista “ancorado em certezas”. A morte de Salvador Allende, presidente do Chile, anunciada nesse dia, carregou o ambiente, não se falou de uma revolução, Cunhal abordou possibilidades de cooperação entre os dois partidos – ambos queriam o fim da ditadura e a conquista da liberdade democrática. Antes, muito antes, por breves semanas, Cunhal deu explicações a Soares no Colégio Moderno, onde era regente de estudos convidado pelo pai de Soares. Tinha a missão de lhe ensinar as coordenadas celestes. Cunhal admitiu, 50 anos depois, “não ter conseguido ‘ensinar, convenientemente, as coordenadas terrenas’”.
Poucos meses antes da reunião em Paris, a 19 de abril de 1973, data da fundação do PS, 26 homens e Maria Barroso estão num colégio a 30 quilómetros de Bona, Alemanha. Maria Barroso é uma das sete pessoas que votam contra a transformação de um movimento político num partido. Soares baixa a cabeça. Maria Barroso usa da declaração de voto para sublinhar que, independentemente da sua posição, respeitaria o princípio de solidariedade. Vinte a favor, sete contra. Cantou-se o hino, eram seis da tarde, era quinta-feira santa.
Há um país dentro do livro, foi um dos objetivos. Luís Osório, que dirigiu jornais e uma estação de rádio, encenou uma peça de teatro, tem oito livros publicados (entre os quais, “A queda de um homem”, seu primeiro romance), acrescenta-lhe outros. “De que maneira, contando pequenas histórias da História, eu conseguia, através também da forma como junto as histórias, encontrar um fio condutor e uma coerência global. E essa coerência global tinha como objetivo definir o país sem o definir”, diz à “Notícias Magazine”. Para que cada um, na sua leitura, encontre as suas definições.
“É um país muito paradoxal. Crescemos e definimo-nos na sobrevivência, na falha. Portugal não estava destinado a ter uma vida de mais de 900 anos. Estávamos destinados a sobreviver, a ser discretos, a ter uma língua que não magoasse, apesar da nossa língua ser muito rugosa, não é comparável com a língua catalã ou com a língua basca, línguas de combate. A nossa língua é de compromisso.” Há outros paradoxos. O fado e o sol. A música, essência do país, que não se dança quando há tanta luminosidade à volta. “Criámos um som que corporiza uma ideia de melancolia quando a luz que nos entra pela janela afasta essa ideia.”
Mais paradoxos. Os que partiram em caravelas e os que ficaram a dizer mal dos que foram. O país na primeira linha das campanhas que apelam à generosidade e na primeira linha “dos atos mais mesquinhos de egoísmo e de inveja”. “Somos capazes da maior euforia e de depressão na mesma hora do dia.” Luís Osório fala da bipolaridade de sonhar e matar o sonho no segundo seguinte. “Somos extraordinariamente únicos.”
A galinha de Sampaio, as sanitas do Porto, o vazio de Guterres
Almoçou uma única vez com Eanes (não envelhece, o senhor, pensou o autor), o primeiro presidente da República eleito depois do 25 de Abril. Na campanha eleitoral, em Buarcos, Figueira da Foz, um rapaz insultava o candidato. Eanes chamou-o, deu-lhe a lista do restaurante, perguntou-lhe o que ia pedir. Almoçaram, conversaram, e o contestatário mais tranquilo aproveitou a boleia até casa num dos carros da comitiva.
No dia seguinte a uma vitória nas eleições para a Câmara de Lisboa, Jorge Sampaio recebia em casa uma galinha benzida e batizada de Maria da Anunciação. O bicho não parava quieto, foi enviado para uma quinta da família. Algum tempo depois, Nuno Brederode Santos, que haveria de ser conselheiro político durante a presidência de Sampaio, pergunta-lhe como está a galinha.
Eduardo Catroga, ministro das Finanças de Cavaco Silva, estava numa reunião quando lhe disseram que as sanitas e os chuveiros da casa de banho dos árbitros do estádio do F. C. Porto haviam sido penhoradas. “As sanitas do estádio? Mas porque não penhoraram o Kostadinov?”, perguntou o sportinguista Catroga. Falava do avançado que marcava contra o Sporting. Era certinho.
Francisco Louçã, Liceu Padre António Vieira, aula de Religião e Moral, rapaz de poucas falas, e a turma, onde estavam Santana Lopes e Carmona Rodrigues, juntou 30 escudos com um propósito. Louçã tinha de dizer merda na aula. Não abriu a boca, não recebeu o dinheiro.

(Foto: Rita Chantre/Global Imagens)
António Guterres e o seu deserto, a saída da política, as legislativas sem maioria absoluta, a derrota nas autárquicas, e uma constatação na primeira pessoa. “Se quantificarmos o exercício das minhas funções, 80% da vida de um primeiro-ministro é horrível de aturar. Gerir conflitos das pessoas, os seus ciúmes e expectativas nem sempre correspondidas, gerir o peso da máquina administrativa, uma máquina que emperra e faz perder horas e horas e horas.” Há ainda a história nunca contada do ataque planeado às sedes do PCP caso Freitas do Amaral tivesse vencido as presidenciais em 1986 e mais três histórias desconhecidas de Otelo Saraiva de Carvalho.
Não é um livro neutro e as histórias têm camadas para o leitor esgravatar, em alguns momentos, há uma dimensão quase psicanalítica. “O livro não é neutro porque eu estou lá, nas escolhas das histórias e na forma como as conto”, comenta o escritor. Não é neutro porque dá a possibilidade ao leitor de perceber o caráter das figuras do livro. “Que tipo de vida têm para lá da superfície. Nessa interioridade, descobrimos novos caminhos e um terceiro caminho, o da transcendência, onde se fazem todas as perguntas e onde não existem respostas.”
A ditadura, o comunismo, a revolução, a clandestinidade, a tortura. Deus e a morte, a vontade de entender como essas personalidades encaram a eternidade. Saramago disse-lhe, em Lanzarote: “Tenho tudo. Uma casa a que chamo A Casa, um lugar magnífico, uma pessoa que amo e com a qual estou casado, uma quantidade de livros que vão durar o que tiverem de durar, até um Prémio Nobel me deram. Então porque não sou mais o que os outros desejassem que fosse? Talvez porque a felicidade nunca é alegre. Pessoalmente, não quero mais nada, desejava apenas que o Mundo não fosse aquilo que é”. Disse-lhe o Saramago que não sorria, o Saramago que tinha quatro anos quando perdeu o único irmão. Chico, dois anos mais velho, a luz da família, morreu de difteria. O pequeno Chico que fazia das gavetas das cómodas escadas.
A mais bela fuga no Estado Novo e as chaves de Cunhal
Mais histórias. Amália e tantas flores pela casa e a certeza de que não gostava de vinho. Simone de Oliveira, a mulher que sempre seguiu o seu caminho, deixa uma luz acesa como Varela Silva lhe pedia quando estava doente, antes de partir. António Dias Lourenço, o comunista que viveu na clandestinidade, e que “era uma ilha que parecia um continente”. Cunhal e os seus desenhos de homens, plantas, mulheres e objetos, durante as discussões intermináveis nos conselhos de ministros dos governos provisórios.
Freitas do Amaral e a sua própria culpa de não ter fundado o CDS logo a seguir ao 25 de Abril. Eugénio de Andrade que nunca escreveu felicidade nos seus poemas. Balsemão, no verão quente de 1975, tinha uma pistola em cima da mesa caso as brigadas revolucionárias de Isabel do Carmo tomassem o “Expresso” de assalto. O filme em que as personagens centrais seriam prostitutas de casas de passe do Porto que não saiu da cabeça de Manoel de Oliveira, nos anos 40. O homem que gostaria de viver até aos mil anos. Eduardo Lourenço que só ganhou coragem para pensar e escrever quando os pais morreram, para não os dececionar.
“Por um lado, há histórias muito bonitas, algumas, histórias de que gosto muito, de vencidos – se esta história só fosse feita com pequenos pormenores de vencedores, o retrato seria muito incompleto.” Luís Osório pára na história de Abel Almeida, o homem que passou 60 anos numa leprosaria, obra de Rovisco Pais, homem de confiança de Salazar, quando os leprosos eram levados das suas famílias e os seus bens queimados. “É a história de um anónimo, é talvez das histórias mais simbólicas deste país. De repente, o Abel era o líder daquele lugar, um homem que combateu pela dignidade, que combateu pelos seus direitos. Essa história simboliza muito aquilo que é o combate dos anónimos, que é um combate dos vencidos que não ficam na História, mas que fazem a História.”
E a história de António Tereso, o comunista que, relata, “preparou a mais espetacular fuga no Estado Novo no carro blindado de Salazar, passando-se para o lado dos guardas prisionais e da PIDE, e achando os comunistas que ele os tinha traído na prisão. Foi, durante meses, humilhado, pontapeado, cuspido”. “António Tereso é um dos heróis mais desconhecidos do combate contra o Estado Novo”, acrescenta o autor.
“Este livro foi escrito durante 30 anos, no fundo, é isto.” Com a vantagem de mais de 90% das histórias lhe terem sido contadas na primeira pessoa, com o privilégio de ter conhecido as personagens. “Achei que seria interessante e que tinha chegado o tempo de oferecer aquilo que tinha”, confessa. Não é um livro datado. O escritor não quis contaminá-lo com as leituras do dia a dia. “É uma viagem à nossa História recente. Cada história pode ser lida daqui a 50 anos, pode fazer-se o desenho do país através destas histórias.”
O livro é também um trabalho de curiosidade, tentativa de resgatar o que é puro no jornalismo, ofício que tão bem conhece, “essa ideia de fazer perguntas e de abrir os olhos e os ouvidos para ouvir as respostas”. “A curiosidade pelo outro, aquilo que o outro tem para dizer, e esta curiosidade obriga a um despojamento de mim próprio”, observa.
Na sua página de Facebook, e da editora Contraponto também, Luís Osório tem vindo a organizar “Conversas secretas”, conversas à volta do livro. Jerónimo de Sousa foi um dos convidados e acrescentou mais uma história que não passava de um rumor ao confirmar que Cunhal, ainda muito jovem, no primeiro interrogatório na sede da PIDE, à pergunta onde mora, atira para cima da mesa um molho de chaves com a resposta “pode procurar em todas as casas, moro em Lisboa”.
A 15 de junho, a conversa é com Alberto João Jardim, que está no seu livro. O miúdo que, num acampamento anual da Mocidade Portuguesa, criou uma letra que misturava uma velha incontinente e um rapaz que casara com ela por força de uma herança. Cantou-a diante Salazar que terá achado uma certa graça.
Ir ao baú buscar mais histórias? Pode acontecer ou talvez não, matéria-prima não lhe faltará. Luís Osório não diz nunca, mas tem uma resposta. “Não gosto nada de repetir fórmulas. É perder tempo na minha cabeça.”
















