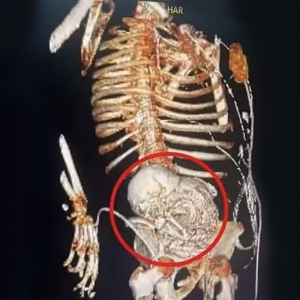Entrevista Filipa Martins | Fotografias Jorge Simão
O projeto tem como gatilho as filmagens caseiras de Eliza Gonçalves, mãe do cineasta, durante uma visita à China da Revolução Cultural, na década de 1960. Somaram‑se imagens de arquivo dos eventos de 1968 em França e da Primavera de Praga, na Checoslováquia, que revelam a euforia destes movimentos, mas também o seu esgotamento melancólico.
No Intenso Agora é ainda o ponto de partida para uma conversa sobre o Brasil de hoje, após o bárbaro assassinato da vereadora Marielle Franco, porque quando se atira uma pedra – como na imagem do estudante de 1968 – dificilmente se consegue prever o arco do projétil.
No Intenso Agora tem um impulso revisionista em relação ao Maio de 68 em França?
É preciso dizer que alguns personagens‑chave do Maio de 68 – que eu admiro – se deixaram seduzir pela máquina da celebridade. 68 muito rapidamente se tornou uma mercadoria. Na segunda semana, você podia ir ao anfiteatro da Sorbonne ocupada e pagar para alguém tirar a sua fotografia. Para dizer «eu fui revolucionário». Saindo da Sorbonne, havia banquinhas onde poderia comprar um paralelepípedo que tinha sido jogado na polícia.
O filme nasce de um material muito pessoal, da minha mãe e, daí, eu escorrego para o Maio de 68, em França.
Concorda com o The New York Times que vê o filme como um «impulso amargo e ruminante» sobre o Maio de 68?
Me comovo com o Maio de 68, em parte, porque fracassa. Me comovo por eles [os estudantes] terem tentado genuinamente, mas viram‑se perante forças muito maiores. Sobretudo, forças ligadas ao campo deles. Quem faz com que o Maio de 68 chegue ao fim, mais do que o governo de direita de De Gaulle, são as estruturas da esquerda burocráticas – o Partido Comunista, os sindicatos. Eles achavam que tinham aliados onde não tinham. Tem No Intenso Agora esse impulso de mostrar que as coisas são mais impuras, mais complexas.
O que diz às pessoas que tentam encontrar ideologia neste filme?
Para essas, o filme resulta menos bem. No caso especifico da minha mãe, não é a política que a leva à China e a se encantar com o país. Talvez seja até a antipolítica. Uma mirada muito conservadora, que vai buscar não o que muda, mas o que permanece.

Qual foi o gatilho para o filme?
O filme nasce de um material muito pessoal, da minha mãe e, daí, eu escorrego para o Maio de 68, em França. Lendo sobre o que a minha mãe escreveu e sobre o que escreveram os militantes de 1968, percebi uma certa dinâmica existencial semelhante. Uma emoção muito grande, uma intensidade, um alinhamento com a vida, com o sentido dela e, quando isso passa, uma espécie de deriva, de tristeza e de dificuldade em continuar a viver num mundo parcialmente desencantado ou não tão encantado como o da intensidade.
Critica‑se o Partido Comunista Francês naqueles tempos, mas já pensou que eles poderiam estar certos?
Mistura várias geografias, relatos pessoais e históricos, imagens de diferentes origens. Como coseu esses retalhos?
Eu não entro na ilha de edição com um roteiro claro. Tenho ideias de alguns assuntos sobre os quais quero refletir. Como as pessoas morrem? Como se tornam mártires? Isso vira uma sequência isolada e vai para a parede. Quero falar de como o Maio de 68 foi rapidamente absorvido e tornado mercadoria? Monto a sequência e vai para a parede. Após 30 ou 40 sequências, que não conversam entre si, alguma conversa vai surgindo, porque estou convivendo com essas cenas durante muito tempo. Daí o filme nasce: nasce do trabalho de fazer o filme.
Nunca utiliza material filmado por si. Podemos fazer uma leitura política na forma como as imagens foram captadas?
O filme também faz uma leitura explicitamente política das imagens. Em França, numa sociedade em convulsão, você tem o direito de se aproximar dos eventos. Na Checoslováquia, você não tem porque é um país que está sendo invadido, é um regime totalitário. A tua imagem será sempre necessariamente de longe, porque não se pode aproximar. Essa meta‑análise da imagem é uma coisa que me interessa.
Nessas imagens próximas em França, vemos os estudantes em protesto, filhos de uma classe dominante.
Sim, sem dúvida, eles eram todos garotos bem‑postos, meninos brancos da classe média, média-alta. As mulheres e os negros estavam arredados para segundo plano.
Diz no filme que os estudantes tinham acesso à sociedade de consumo e lutavam contra essa sociedade. Já o proletariado queria ter acesso aos bens de consumo.
Critica‑se o Partido Comunista Francês naqueles tempos, mas já pensou que eles poderiam estar certos? Eles tinham o pulso da classe operária e a classe operária não queria a revolução. A classe operária queria apenas incorporar para si os ganhos da sociedade que todos os outros tinham.
No intenso, agora; e depois do intenso? O que vem depois?
Aí é que começa a dificuldade. Todo o mundo já se sentiu apaixonado e já sentiu o fim da paixão. É um momento muito triste, porque você deixa de viver sendo maior do que você, você volta para o seu tamanho. Nos grandes movimentos, essa sensação é intensificada. Você não é só o outro amado, você é um mar de gente. É a própria história. Em todos os relatos com pessoas que viveram esses momentos, é inevitável vir à tona a tristeza e a melancolia que é o fim disso.
O único gigante é o Lula, mas ele hoje em dia é praticamente uma carta fora do baralho.
Como no Brasil, em 2013?
Em 2013, no Brasil, durante um mês tudo parecia que podia ser diferente. Quem viveu aquelas três semanas em França e se viu em junho diante do De Gaulle fortalecido e todo o mundo na praia disse: perdemos. Como no Brasil, hoje, se diz perdemos.
Parafraseando Chico: foi bonita a festa, pá, mas acabou?
O verso do Chico funciona até certo ponto. A festa acabou, mas aquilo que as pessoas levaram para casa fica e muda o país. Quando você ouve os jovens que participaram em 2013, você sente ali duas coisas: uma sensação de derrota, mas por outro lado a perceção de que, silenciosamente, tem forças políticas se articulando. Tem grupos que querem ter voz. Tem coletivos de jornalistas que se estão estabelecendo para fugir às narrativas dos grandes grupos. Imaginar que isso não tenha consequências nos próximos anos me parece ingénuo. Foi necessário passar por esse período em 2013 para que as pessoas se dessem conta de que são agentes da história. O Brasil dentro de dez anos será um país muito diferente, melhor.
Qual é o seu prognóstico para as eleições no Brasil de 2018?
É impossível ter. Você não tem nenhum candidato forte, capaz de aglutinar as imaginações e os afetos. São todos anões. O único gigante é o Lula, mas ele hoje em dia é praticamente uma carta fora do baralho.
Pode dizer que todos os brasileiros odeiam o Temer, até a mulher dele. Esse é o momento mais grave da vida brasileira desde que eu existo.
A morte da vereadora Marielle Franco é um sismo ou é um terramoto?
A morte da Marielle Franco é um crime político. É um crime político de fações, encasteladas no Estado e que se sentem ameaçadas. Não necessariamente por ela.
Ela seria um rosto dessas forças que estão a emergir?
Ela é a figura fora do pântano. Foi assassinada como um recado para essa força interventora. Os grupos de milicianos, até de polícias junto com criminosos, gente do tráfico, podem ter tomado a seguinte decisão: vamos assassinar de maneira espetacular uma pessoa proeminente para deixar claro para quem está vindo de fora que, se eles quiserem desmontar os nossos esquemas, isso aqui vai virar um caos. A gente mata a Marielle hoje e pode matar outra pessoa no mês que vem. Ou entra em acordo ou a gente vai barbarizar.
Não é uma questão ideológica, é uma questão de crime organizado.
Eu colocaria as minhas fichas quase todas nessa hipótese. Não é ideológico, é crime.
Prevê uma escalada de violência?
Quando disse que daqui a dez anos o Brasil estará um país muito melhor, não é uma inevitabilidade. Com o assassinato da Marielle, ficou claro que a gente está numa encruzilhada. É um assassinato de grande ousadia e de confronto com os poderes estabelecidos. Pode ser que estes não aceitem o confronto e partam para a porrada. Não se consegue destruir essa coisa incrustada dentro da máquina do Estado sem produzir violência. Se você não fizer isso, o Brasil pode tomar o caminho que tomou a Colômbia na década de 1980, dos cartéis e do narcotráfico. Tenho jornalistas da Piauí que já falam de narco‑Estado no caso do Brasil.
O Brasil tem um governo com força para estar à altura da situação?
Nenhuma. O Temer tem dois ou três por cento de aprovação, isso é abaixo da margem de segurança. Pode dizer que todos os brasileiros odeiam o Temer, até a mulher dele. Esse é o momento mais grave da vida brasileira desde que eu existo.
«Eu não sou das redes sociais, não estou em nenhuma delas. Não tenho nem celular.»
Como vê a situação atual do jornalismo no Brasil?
Como em todo o lugar, vejo com muitas dificuldades, principalmente o escrito, porque o modelo de negócio se desfez.
Mas a Piauí parece usufruir de uma certa serenidade.
A gente é muito serena, até porque é mensal, não tem a pressa da urgência, isso dá uma capacidade de análise mais temperada.
No jornalismo, isso é um luxo.
É. É o luxo do tempo.
Daniel Cohn‑Bendit [líder estudantil do Maio de 68] diz no filme que a televisão é um palco e que ele teve o privilégio de desempenhar um papel. Isto é mais verdade hoje, no tempo das redes sociais e das notícias falsas?
Eu não sou das redes sociais, não estou em nenhuma delas. Não tenho nem celular.
Porquê?
Tem uma coisa performativa nas redes sociais da qual eu sou muito consciente. Você acaba por deixar de ser você e acaba por ser a personagem que você está construindo.
As redes sociais reforçam alguma consciência social, viu‑se por exemplo na denúncia do assassinato de Marielle.
Gosto daquilo que é diferente de mim. No Facebook, as pessoas acabam por se encontrar com aquelas que são muito parecidas, que reforçam as suas crenças e os seus dogmas. Você se vai tornando cada vez mais membro da sua própria igrejinha. O que gosto no caso da minha mãe na China é que ela se foi encontrar com o que era o oposto dela, ideologicamente, culturalmente, politicamente. E ela não se horrorizou, ela se encantou.
Houve alguma reconciliação com a sua mãe durante a feitura deste filme?
Acho que sim. Este trabalho me permitiu aproximar‑me dela. Eu era muito afastado dela.
O realizador dos bastidores da campanha de Lula da Silva
O realizador brasileiro João Moreira Salles (1962, Rio de Janeiro) já conta com uma carreira longa no cinema e na televisão documental, com mais de uma dezena de produções. Sobressaem no currículo as filmagens dos bastidores da campanha política do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que deram origem ao documentário Entreatos, lançado em 2004. Em 2007, estreia Santiago, um filme sobre um antigo mordomo da família Moreira Salles.
Filho de uma família tradicional brasileira, morou na capital francesa desde 1964. O pai do realizador, o empresário e diplomata Walther Moreira Salles, fora ministro da Fazenda durante a curta gestão do presidente João Goulart, tendo deixado o Brasil logo após o golpe militar.
O que sobra do contraste entre a euforia e o desencanto? É a pergunta que o move no No Intenso Agora e que une o fracasso do Maio de 68 aos destinos da mãe do cineasta, que cometeu suicídio, tragédia nunca mencionada no filme.
Além de realizador, João Moreira Salles apresenta‑se como jornalista. Em 2006, criou a revista literária Piauí, segundo ele, «para contar boas histórias com humor». Vive, atualmente, no Rio de Janeiro, um estado que, diz, «deixou de ter governo».