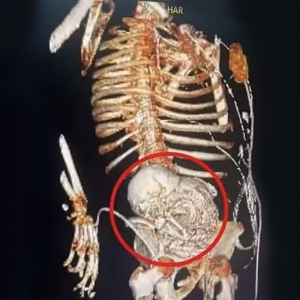«O sociólogo não é Deus», ouviu de uma professora nos primeiros dias de faculdade, depois de ter revelado todos os sonhos que a levaram a não hesitar na escolha do caminho académico. A resposta não desmobilizou a jovem aluna, para quem a aspiração de contribuir para uma sociedade melhor era um propósito legítimo e imperioso. Intervir é, pois, um verbo primordial na vida da investigadora, docente e cidadã Sara Falcão Casaca. «Pegando nos estereótipos, se fosse homem considerar-me-iam determinada. Como sou mulher, talvez me chamem teimosa.»
Porquê a sociologia?
A minha mãe e a minha avó eram professoras e, portanto, em muito pequena, as minhas brincadeiras passavam muito por aí. Sentava-me junto a um quadro de giz, rodeava-me das minhas bonecas e dos meus bonecos e dava muitas aulas. Gesticulava, treinava a oratória, fazia testes. Depois, na escola secundária, tive uma disciplina de sociologia e uma professora que me marcaram imenso. As aulas eram de tal forma interessantes e ilustrativas da dimensão interventiva da sociologia que fiquei fascinada. E quando tive de decidir, não hesitei. Na faculdade, nas primeiras aulas, uma professora perguntou por que razão tínhamos escolhido a sociologia. E eu descrevi então todos os meus sonhos, tudo o que podia fazer com a sociologia, texto que ela rasurou e ao qual acrescentou um comentário: o sociológo não é um Deus. Hoje, acho que não foi nada pedagógico, porque, na verdade, a aspiração de contribuir para uma sociedade melhor era perfeitamente legítima e deveria ter sido acarinhada.
Começa por debruçar-se sobre as condições de trabalho, as relações laborais e as de poder entre capital e trabalho, áreas em que a desigualdade também não é pequena.
Logo após a faculdade, aguardava eu pela oportunidade de aplicar e testar os princípios humanistas da organização do trabalho, fui fazer sociologia industrial a sério, numa fábrica de automóveis, durante ano e meio. Nessa altura, estavam na fábrica quadros superiores estrangeiros a dar formação aos que seriam os futuros dirigentes. Como assessora de uma dessas grandes figuras, tinha assento em algumas reuniões de topo e, numa delas, levantei a voz para dizer que um trabalhador tinha sido atropelado por uma empilhadora e, não tendo sido grave, importava acautelar. Fez-se um silêncio descomunal na sala. Depois, alguém disse: «fique sabendo que, aqui, os empilhadores têm prioridade sobre as pessoas». Seria o confronto com o primeiro golpe nos princípios humanistas de organização do trabalho.
Foi boa aluna?
Filha (única) e neta de professoras – a minha mãe era professora primária numa aldeia e, a certa altura, tive mesmo de ser sua aluna – senti sempre que havia a expetativa familiar e até de colegas de que fosse boa aluna.
Fale-me dessa aldeia.
Sapataria é uma aldeia de pessoas extraordinárias, junto a Sobral de Monte Agraço. Nasci em Coimbra, mas fui para lá muito criança. Lá vivi até aos 15 anos e tenho muitas e boas recordações desses tempos.
Por exemplo?
Passei toda a infância ali. E achava que as pessoas eram, de um modo geral, muito generosas: gostavam de partilhar o que a terra dava, gostavam de receber. Brinquei dias, tardes inteiras em ambientes muito acolhedores.
Como reagia àquela exigência?
Era um ónus que carregava. E eu era uma miúda que gostava muito de brincar, que era até distraída. Mas também tinha consciência do investimento que a minha mãe e o meu pai faziam na minha educação e, por isso, acabei por ser aplicada. Estamos a falar de uma aldeia onde muitas meninas acabavam por abandonar os estudos com 13, 14 anos e algumas a casar alguns anos depois.
Sempre soube que a sua vida seria outra?
A minha mãe e o meu pai acompanhavam muito o meu percurso escolar. Inclusivamente, mudaram-se para Loures para me proporcionarem o acesso a uma escola que era de facto muito boa, a escola José Afonso e aproximarem-me geograficamente da universidade. Acompanharam-me muito e, por isso, procurei ser aplicada. Mas boa aluna, no sentido de genuinamente interessada nas matérias, só fui na universidade, quando me encontrei com a sociologia.
Aos 22 anos, já na universidade, decide ir um ano para Inglaterra, no âmbito do programa Erasmus. Como correu?
Sou filha única, nunca tinha estado fora de casa. A turma era muito pequena e, não sendo a única estrangeira, era a estrangeira mais nova, recente. Estavam todas e todos no terceiro ano e para mim, recém-chegada, ninguém olhou. Nem sequer me perguntaram o nome ou se precisava de alguma coisa. Foi um choque cultural tremendo. Fazia e desfazia as malas todos os dias. Tinha as minhas relações afetivas em Portugal. É um marco importante também porque senti a discriminação pela primeira vez.
Por ser rapariga e portuguesa?
Por ser portuguesa e por ser Erasmus. As universidades inglesas não recebem muitas pessoas Erasmus. Parte das suas receitas vem exatamente de pessoas estrangeiras que não são Erasmus. No ano letivo que lá passei tive notas muito boas. E, já com o bilhete de volta comprado, vem um professor dizer-me que teria de ficar para o exame de segunda época. Teria de fazer mais uma vez prova da minha nota. Chorei dia e noite porque a perceção de injustiça foi tremenda, um desgosto e uma desilusão. Fiz novo exame, subi até a nota, e o professor voltou a chamar-me para me entregar uma carta de recomendação. A minha carreira de investigação começou com essa carta.
Professora ou investigadora, como prefere ser referida?
Sou também investigadora, gosto muito de investigar, sempre a pensar na utilidade dos diagnósticos para a intervenção social. Mas a relação com as minhas alunas e os meus alunos numa sala de aula é algo de absolutamente extraordinário. Posso estar muito cansada, ir para a sala de aula completamente extenuada mas, quando a porta se abre, há uma energia que me revigora e que não sei de onde vem. É uma relação extraordinária.
Pergunta provocatória, porque é feita geralmente apenas a mulheres: como concilia a vida familiar com a profissional?
O meu marido é professor universitário e esta é uma das carreiras profissionais mais exigentes. Fosse apenas lecionar e já era muito. Mas o que conta mais é o lado da investigação. É conseguir publicar em revistas, sobretudo internacionais, é coordenar projetos nacionais e internacionais. Há uma intensidade de trabalho fortíssima. O meu investimento nunca para.
O meu tempo de lazer é muitas vezes usado para ler livros sobre temas muito centrados nesta área, sobre igualdade, os direitos das mulheres, biografias de feministas. O tempo para a vida familiar e pessoal é muito limitado. Gostava de cuidar mais de mim – consigo fazer pilates uma vez por semana –, ou de passear mais com a Becas (uma golden retriever), que é adorável. Não posso portanto afirmar que haja uma boa articulação entre a minha vida profissional e pessoal.
É fácil viver com alguém tão atento a assimetrias de género?
Não comecei a namorar com o meu marido de checklist no bolso mas quase parece. Só me apaixonaria por alguém que tivesse uma consciência política muito elevada. E ele têm-na. Era já um jovem quando aconteceu o 25 de Abril, e é alguém que se mobilizou politicamente na altura e, depois, na campanha presidencial de Maria de Lourdes Pintasilgo. Olha naturalmente para o nosso quotidiano e para as tarefas rotineiras numa perspetiva de igualdade. Por exemplo, é ele quem cozinha no dia-a-dia. Eu faço outras coisas. Nunca fui muito dada a tarefas domésticas. Em pequena, a minha mãe achava que o meu quarto estava sempre muito desarrumado – e estava.
Como era esse quarto?
Tinha muitas fotografias da família mais próxima, das amigas e dos amigos, de mim própria em locais que me tinham marcado. Passava lá muito tempo, nunca fui muito de exterior. O tempo em que estava em casa da minha avó e do meu avô, sim, ocupava-o muito na rua. Andava muito de bicicleta, e gostava de tentar andar de patins. No dia-a-dia, porém, ficava muito em casa. Gostava muito de ler e escrever histórias. A minha mãe estimulava muito a leitura. E a leitura foi a minha primeira grande descoberta. Foi de um entusiasmo tal que eu não queria apagar a luz à noite. Para uma filha única, tinha encontrado uma importante companhia.
Fale-me também da avó, figura central.
Apesar de sermos muito diferentes nas características pessoais, a minha admiração pela forma como, perante a invalidez do meu avô, teve de prover à família, em contextos muito hostis, é imensa. Perdeu tudo o que de mais precioso se pode perder na vida: dois filhos e uma filha. E, contudo, envelheceu e despediu-se da vida com um olhar sereno, macio e em paz.
Sempre teve a consciência de ser bonita?
Na altura, não. Na adolescência, sobretudo as raparigas, são vítimas de uma irresponsabilidade tremenda do marketing e da publicidade, que faz que seja muito difícil uma jovem sentir-se bem. Hoje, aos 45 anos, estou bem comigo, é verdade. Se algo de bom trouxe a maturidade, foi isto – acreditar em mim, gostar de mim e estar bem na minha pele.
Quando há pouco falávamos das mulheres em lugares de topo ficou por dizer que em regra apresentam-se e são apresentadas como supermulheres, espantosamente felizes e realizadas. Com que ideia ficou das suas investigações?
Reajo muito negativamente ao mito da supermulher, o mito das mulheres perfeitas, super-realizadas na vida profissional e na vida pessoal, mulheres sempre atualizadíssimas relativamente aos acontecimentos políticos, capazes de organizar jantares impecáveis, sempre muito bem arranjadas, de unhas impecavelmente pintadas e de saltos altos. Se queremos desconstruir o estereótipo de que são os homens os mais aptos para os lugares de liderança, não devemos passar a ideia, ainda por cima falsa, de que há supermulheres e que só elas conseguem chegar ao topo. As mulheres nestes lugares que entrevistei sentem uma ambivalência muito grande. São muito realizadas do ponto de vista profissional mas também dão conta das suas frustrações e do sentimento de culpa. Do tempo que não têm ou tiveram para as crianças. De sentirem que não são boas mães. Satisfação, gratificação, mas também culpa e frustração. É sobretudo isto o que eu encontro, e que o mito de supermulher agrava.
Em 2010, foi presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género – demitiu-se era Elza Pais secretária de estado para a área. Porquê?
A Comissão é uma grande casa, à qual, em geral, me orgulho de ter presidido. Por todo o percurso no sentido da modernização das políticas públicas e da promoção da igualdade entre mulheres e homens e, também, pelo saber que encontrei em muitas pessoas que lá trabalham. Pessoas que acompanharam todos o percurso legislativo e a fase em que a Comissão teve um papel pró-ativo, ajudando a definir as políticas públicas na área. Dito isto, sabia que ia para um organismo tutelado pelo Estado. Mas aceitar a tutela não é aceitar ser asfixiada, ocupando eu o lugar máximo da administração pública. O organismo tem um plano de atividades que é submetido à tutela. A sua dirigente responde pelo plano, e será avaliada pela eficácia do seu cumprimento. Além desse plano, a comissão coordenava três planos nacionais muito importantes na área da promoção da igualdade entre mulheres e homens, do combate à violência doméstica e ao tráfico de seres humanos. Era, portanto, um trabalho gigantesco. Não tenho – nunca tive – ambições políticas, sou uma académica, é aqui que pertenço. Fui muito genuinamente para o lugar com sentido de serviço público. Fiquei muito desiludida.
Aceitara o convite sem hesitações?
Não hesitei. Há uma característica minha que me tem causado muito sofrimento e muito crescimento, também: sempre que sou confrontada com um desafio exigente tenho de me pôr à prova. Fui muito bem recebida na casa, uma casa tradicionalmente reconhecida como sendo difícil precisamente porque trabalham ali pessoas com muito saber e é grande o sentido de memória coletiva – e por vezes quem chega sabe bem menos do que elas – e que me deram o benefício da dúvida. Mas, como disse, vivi também muitas frustrações que acabaram no meu pedido de demissão.
É fácil trabalhar consigo?
Sou muito exigente comigo e não consigo moderar a exigência relativamente às outras pessoas. Não tolero a falta de sentido de responsabilidade. Gosto muito de trabalhar em equipa, gosto de ouvir as pessoas.
Mas?
Mas sou muito determinada. Pegando nos estereótipos, se fosse homem considerar-me-iam determinada. Como sou mulher, talvez me chamem teimosa.
Nova provocação: trabalha melhor com homens ou com mulheres?
Não tem sido fácil a relação com algumas mulheres, pelas razões que acabei de referir. Não quero culpar muito as mulheres, que já passaram tanto ao longo da história – prefiro lembrar que vivemos em contextos muito difíceis. Mas, é verdade, tem-nos faltado coragem para sermos subversivas. Para dizermos «vamos exercer o poder não contra mas juntas» por um modelo de organização ou de sociedade melhor. Falta-nos isso. Respondendo à pergunta: o facto de ter tido problemas com algumas mulheres não quer dizer que não trabalhe tão bem com mulheres como com homens.
Da breve passagem pelas políticas públicas ficou com uma ideia sobre que medidas podem promover de facto a igualdade entre homens e mulheres?
Uma questão essencial, de que falámos há pouco – promover a partilha do trabalho não pago. Melhorando o que pode ser melhorado no capítulo das políticas de maternidade e paternidade, no sentido progressivo da simetria e promovendo um investimento progressivo na educação para a igualdade e a cidadania, que tem de ser trabalhada desde o pré-escolar. É, também, muito importante promover políticas que eliminem o gap salarial, é preciso uma lei para a igualdade salarial, uma lei para promover uma maior igualdade nos lugares de decisão, mas as leis não são suficientes. É preciso garantir a efetividade das leis.
As mulheres conhecem as leis que promovem a igualdade?
Há um grande desconhecimento do quadro legal. Temos um grande défice de cidadania.
No caso da violência doméstica parece ser diferente. Chegam cada vez mais queixas e pedidos de ajuda.
Aí, sim, julgo que há um conhecimento muito maior. Aliás, não sabemos se o maior número de queixas corresponde a um aumento dos casos de violência, se ao facto de haver mais informação. Também aqui há ainda muito por fazer, sobretudo no domínio da prevenção, mas há avanços. Hoje, as mulheres estão conscientes de que é um crime público, embora muitas delas temam não ter a retaguarda necessária.
A violência doméstica só podia e devia ser um crime público, ou teve dúvidas?
Nenhumas. O problema está no contrário. Haver quem ainda ache que «entre marido e mulher não se mete a colher».
Uma testemunha de um crime violência doméstica sabe que a vítima não quer fazer queixa. Como reagiria?
Essa é uma questão ética e moral.
Há igualdade de género nas instituições políticas? É a área onde o avanço é mais efetivo?
Algumas resoluções de conselho de ministros têm procurado obrigar o setor empresarial do Estado a equilibrar os números. Ainda assim, dos dirigentes de primeiro grau da administração pública apenas um terço são mulheres. E nas empresas do setor empresarial do Estado, a presença de mulheres nos conselhos de administração tem estado aquém disso.
As quotas continuam a fazer sentido?
Prefiro chamar-lhe lei da paridade. E sim, continua a ser importante. O ideal seria poder prescindir de uma lei que impõe limiares mínimos de paridade. Há décadas que as mulheres estão em maioria nas universidades e portanto há aqui um desfasamento muito grande. Os agentes económicos e políticos ainda não tiveram a determinação necessária para fazer a mudança. Há constrangimentos estruturais que é necessário alterar, no quadro do horizonte temporal limitado.
O que teria a dizer a uma miúda de 13/14 anos.
Não tenho crianças, mas se tivesse uma filha dir-lhe-ia que tem de se preparar muito bem do ponto de vista da qualificação, que não pode ter medo de tomar a palavra, de exprimir os pontos de vista, que deve ter coragem para denunciar qualquer expressão de sexismo. Que não aceite nunca uma situação de subalternidade e proteja sempre a sua dignidade enquanto ser humano. Isto é, no entanto, um discurso muito individualista; sabemos que as trajetórias de vida fazem parte de um contexto sócio-económico mais vasto e que as condições objetivas e subjetivas de partida pesam muito. Portanto, temos de lutar coletivamente para que todas as raparigas – e não só esta – tivessem as mesmas oportunidades.
Comecámos com um marco profissional. Sei que é avessa a um discurso mais intimista. Será possível encerramos com dois marcos importantes da sua vida pessoal?
O encontro com o meu marido, seguramente. É uma união com 18 anos e ele é um alicerce muito importante na minha vida. A morte do meu pai, aos meus 23 anos. Foi atropelado e, portanto, a sensação é a de acordar com uma vida e acabar o dia com outra, completamente diferente. De súbito desaba o silêncio. Um verso de um poema de Eugénio de Andrade, que inscrevi mais tarde na sepultura. Apesar de ter tido uma educação católica, tenho hoje uma visão racional sobre a vida e a morte. Mas creio que há uma eternidade e a eternidade está descrita na última parte desse poema. É tudo o que fica e que vive connosco. Depois, senti-me responsável pela minha avó, que teve três filhos e uma filha. Perdeu-os. Fiquei a sua única descendente.
Leia a primeira parte da entrevista a Sara Falcão Casaca.