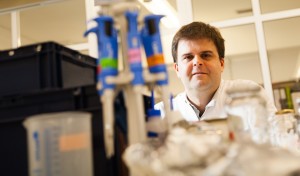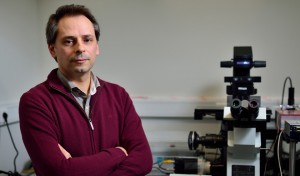Luísa Neves
Investigadora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, é bolseira FCT
«A minha bolsa termina em 2016, depois não sei»
O recente prémio L’Oreal que conquistou já tem destino. O valor do financiamento servirá para adquirir o ventilador que irá simular a corrente de expiração de um paciente sob o efeito de anestesia.Luísa Neves, investigadora da Universidade Nova de Lisboa, faz parte do grupo das mais de trinta cientistas que foram apoiadas nos últimos quinze anos pela parceria entre a L’Oréal e a UNESCO. Trabalha em membranas preparadas com líquidos iónicos que permitem capturar e armazenar o dióxido de carbono presente em correntes de gases de anestesia, reutilizando-os «de um modo eficiente e seguro» e com redução de custos. «Apesar de o xénon ser o gás anestésico ideal, raramente é utilizado porque é trinta vezes mais caro do que a anestesia mais comum. Com este procedimento, passa a poder ser reutilizado sem custos adicionais.»
Talvez porque o olhar incrédulo do interlocutor não a convença ou porque está habituada a ter de cartografar o seu trabalho diário de investigação, puxa de um papel para desenhar a forma como as membranas iónicas aprisionam o dióxido de carbono. «É como um filtro do café», e começa a simular uma simplicidade que não é real. Para os mais velhos, o esquema que surge no papel tem semelhanças com o jogo Manic Miner que fazíamos correr no «reformado» ZX Spectrum. «Quando o paciente anestesiado expira, a corrente de gases contacta com a membrada iónica, que apresenta uma afinidade grande ao dióxido de carbono, retendo o CO2, e o xénon puro pode ser reutilizado.»
Luísa gosta de encontrar «soluções». A visão utilitarista da ciência não a assusta, desde que exercida a par com a investigação fundamental, sem objetivo definido. «Há uma aplicação muito direta e imediata do meu trabalho à indústria», garante. «A mais evidente é a da utilização de membradas iónicas na separação do dióxido de carbono – gás responsável pelo efeito de estufa – resultante da queima de combustíveis fósseis.» Com inegáveis benefícios ambientais.
A influência da irmã foi determinante na escolha de ciências. Até ao secundário, a vontade era a de seguir jornalismo. Mas as promessas de um futuro com muitas saídas profissionais e emprego falaram mais alto. Não se arrepende. Aos 32 anos, dá aulas e orienta mestrandos e doutorandos, já se apaixonou pela profissão, mas está longe de ter alcançado a tão prometida estabilidade: «Tenho uma bolsa que termina em 2016. Não sei o que me vai acontecer depois.»
Fotografia de Jorge Simão
Rui Costa
Investigador da Fundação Champalimaud. Recebeu cinco milhões de financiamento internacional
«Podemos estar a excluir “Ronaldos” da Ciência»
Rui Costa já angariou mais de cinco milhões de euros em financiamento externo para fazer ciência em Portugal – «divisas» para investir em meios humanos e técnicos -, a maioria com projetos que não tiveram acolhimento por cá. «É como se tivesse exportado cinco milhões de euros em ideias», caricatura o investigador da Fundação Champalimaud. A ironia denúncia a «visão utilitarista da ciência ao serviço da economia» presente no discurso político.
Natural da Guarda e licenciado em Medicina Veterinária, Rui Costa foi o primeiro investigador nacional a receber pela segunda vez um financiamento do Conselho Europeu de Investigação. Aos 41 anos, foram-lhe atribuídos mais dois milhões para estudar o chunking, um mecanismo cerebral que nos permite organizar memórias e ações. «O dinheiro internacional é mais e é mais regular, por isso já não concorro a financiamento em Portugal», explica no seu gabinete na Fundação. Por trás da cabeça tem um quadro branco que exibe um conjunto de números e equações. Pistas sobre como o cérebro organiza ações complexas – escrever, tocar piano ou falar -, dividindo-as por módulos. Conjuntos de letras que formam palavras, pares de algarismos que constituem números de telefone, notas que criam melodias. O cérebro humano aglutina e divide elementos para aprender, e Rui Costa estuda que neurónios trabalham neste processo.
Com alguma condescendência, apelida os recentes cortes de quase 40% nas bolsas de doutoramento e de pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) de «incompetência». «Foi um engano. Não há lógica. Houve cortes nas bolsas individuais, mas não houve aumento nos projetos. Primeiro, abria-se projetos com pós-doutorados integrados e só depois cortava-se nas bolsas individuais.»
No final da administração Clinton, nos últimos anos da década de 1990, Rui Costa chegou aos EUA para fazer o doutoramento em Neurociência na Universidade da Califórnia. Nessa altura, o investimento em ciência duplicou na nos Estados Unidos. Anos mais tarde, era chefe de secção dos Institutos Nacionais de Saúde americanos e contactou com orçamentos anuais sete vezes superiores ao da FCT. «Em Portugal, estamos a atribuir bolsas a 10% dos investigadores que se candidatam, logo é impossível matematicamente selecionar os melhores.» A escolha passa a ser aleatória: «Seria como escolher há dez anos o futuro Ronaldo com uma malha de 10%; arriscávamo-nos a falhar e a escolher antes o Quaresma. Resultado: podemos estar a excluir “Ronaldos” da ciência.» Estará a falar dele próprio? Afinal, Rui Costa também foi bolseiro FCT, antes de ser «Bola de Ouro» da investigação.
Fotografia de Jorge Simão
Sofia Aboim
Investigadora do Instituto de Ciências Sociais, estuda o terceiro sexo
«Sem financiamento internacional, a investigação estaca em risco»
Sofia Aboim viu a curiosidade pelo seu trabalho reforçada depois de a Alemanha ter dado aos cidadãos a possibilidade de inscreverem no bilhete de identidade, à nascença, um terceiro sexo, além do masculino ou do feminino. Em novembro, o país de Merkel legislou sobre a existência do «sexo não definido» e tornou-se o primeiro na Europa a reconhecer esta realidade. Um mês depois, aos 41 anos, a investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa ganhava um financiamento de 1,3 milhões de euros do Conselho Europeu de Investigação para estudar os contornos de uma cidadania alternativa à ideia de masculino e feminino, com principal enfoque nas vidas trangénero e, logo, no terceiro sexo. Este é um daqueles casos em que a lei ultrapassou a organização social e deu ao cidadão direitos que não estão espelhados no quotidiano ou nas mentalidades, levantando dúvidas profundas e outras de ordem mais prática. «Como é que vai ser com as casas de banho femininas e masculinas, com os balneários, com as prisões, com os pormenores do dia-a-dia? Alguma coisa terá de mudar.» É no enquadramento destes «novos» cidadãos – quem são, como se definem, onde trabalham, de que forma são discriminados – que o estudo de Sofia Aboim pretende abrir caminhos.
Socióloga de formação, hesita antes de responder sobre a existência efetiva de um terceiro sexo. Refugia-se na biologia para dar corpo a uma convicção empírica. «Há mais casos de intersexualidade biológica do que o que nós pensamos. Estudos recentes apontam para 2,7% de nascimentos com características ambíguas», concretiza. «Algumas destas pessoas não o saberão. O número resulta da avaliação da aparência, mas também de testes genéticos, com medição de cromossomas e análises hormonais.» E acrescenta: «O chapéu do transgénero é muito lato» e os contornos desta população ainda não estão delineados. «Torna-se difícil perceber a dimensão de um grupo com vários movimentos migratórios, associados, por exemplo, ao trabalho sexual.» Estudos europeus recentes revelam que um terço do trabalho sexual em França é feito por pessoas «trans». Em Portugal, está demonstrado que esta população é composta sobretudo por emigrantes provenientes da América do Sul.
Sofia irá liderar uma equipa de sete pessoas em cinco países europeus e garante que a investigação ficaria em risco sem o dinheiro internacional. A cientista não está alheia «ao atual desinvestimento em ciência», particularmente na sua área de estudo: «As ciências sociais e humanas são consideradas pouco úteis e, por isso, menos financiadas nestes tempos de escassez.»
Fotografia de Jorge Simão
Edgar Gomes
Investigador do Instituto de Medicina Molecular, regressou a Portugal há seis meses
«Gosto de compreender sem pensar na aplicação prática»
Quando era (mais) novo, equacionou ser arquiteto para entender as componentes das habitações. Acabou por estudar os blocos que existem dentro de uma célula, «as casas do nosso material genético». Esta «arquitetura celular» valeu ao investigador do Instituto de Medicina Molecular um financiamento do Conselho Europeu de Investigação no valor de dois milhões de euros.
Talvez por vício de profissão, Edgar Gomes tem organizado matematicamente os degraus da sua carreira de investigador em ciclos de cinco anos. Foi o tempo que demorou a fazer o doutoramento em Coimbra e o pós-doc em Nova Iorque e, antes de voltar a Portugal, há cerca de seis meses, esteve em Paris como groupe leader por idêntico período. O afastamento não o destituiu de uma posição crítica e é perentório ao afirmar que existe um desinvestimento em ciência em Portugal. «Qualquer paragem de um ano ou dois no financiamento vai ter um impacte na ciência e na vida das pessoas», garante. Além disso, «há aqui um buraco nestes últimos dois anos, quer em termos de financiamento de bolsas quer em termos de financiamento de projetos pela FCT».
O ideal, na opinião do investigador, é que o financiamento chegue em pacote, para que o bolseiro possa desenvolver o seu estudo em instituições com verbas para projetos. «A investigação precisa de pessoas, de infraestruturas, de equipamentos e consumíveis. Se um destes elementos falha, os projetos não funcionam.»
Durante o doutoramento, Edgar Gomes trabalhou numa terapia de tratamento de cancro, uma ideia de ciência com aplicação prática que poderia agradar a qualquer ministro da Economia que quisesse casar a investigação com o aumento do PIB. Porém, depressa percebeu que o que o fascinava era a ciência experimental. «Compreender as coisas mais pelo prazer de as conhecer, sem estar a pensar em aplicações», resume. E partiu da pergunta «como é que uma célula se organiza?» para um estudo aprofundado da função e localização do núcleo dentro da célula.
Pelo caminho, surgiram novas descobertas e, sem que estivesse à espera, novos campos de aplicação prática. A investigação que desenvolve neste momento pode contribuir para o controlo de metástases do cancro. «Percebendo o movimento das células, poderemos desenvolver novas drogas que bloqueiem o núcleo das células afetadas, impedindo que essas células também se mexam e formem metástases», sintetiza. Para já, quer aproveitar o tempo e a liberdade que o financiamento europeu lhe trouxe. Ainda não constituiu equipa, mas tem a certeza de que, quando colocar o anúncio, será «bombardeado com o 90% de bolseiros que não conseguiram bolsas da FCT». Deseja selecionar os «mais apaixonados, com uma imaginação incrível e que adorem fazer ciência»
Fotografia de Pedro Granadeiro/Global Imagens
Manuel Alves
Investigador da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, pondera sair do país
«Começa a ser difícil não equacionar o estrangeiro»
Publicou mais de oitenta trabalhos em diversas revistas internacionais, os quais já foram citados para cima de mil vezes. Um bom número, para um setor que se rege pela lei informal publish or perish (publicar ou perecer, em tradução literal), frase que sintetiza a pressão constante que paira sobre os investigadores. Porém, Manuel Alves gosta de olhar para o lado positivo das coisas e explica que «as publicações em revistas internacionais dão a conhecer os avanços científicos e conduzem a novos desenvolvimentos pela comunidade científica». Em 2012, trouxe para a instituição que sempre o acompanhou e onde dá aulas – a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto – uma starting grant do Concelho Europeu de Investigação e um milhão de euros para alargar o conhecimento sobre o fenómeno da turbulência induzida no escoamento de fluidos complexos, como polímeros ou fluidos biológicos. O objeto de estudo não é óbvio para a maioria dos leitores, mas o dinheiro deu um novo fôlego ao trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 15 anos e permitiu criar quatro postos de trabalho para dois doutorandos e dois pós-doutorandos. Isto, sem um cêntimo do Orçamento do Estado.
A vontade de seguir uma carreira de investigação só se sedimentou na universidade, depois de pôr de lado a hipótese de
Medicina – Biologia do 12.º ano, com excesso de matéria para decorar, gorou uma relação futura com pacientes. Conquistou um dia-a-dia «imprevisível», exceto ao fim da tarde, quando vai buscar as duas filhas ao infantário e à escola. Até lá, manuseia instrumentos que remetem para os filmes de ficção científica – «computadores, microscópios, diversos tipos de laser, câmaras de alta velocidade» – e trabalha com mais de uma dezena de doutorandos e investigadores de pós-doutoramento, com diversas formações e origens tão distintas como Espanha, França, Reino Unido, Egito, Índia ou Irão.
Mas o investigador não cai no facilitismo de criticar a oferta nacional. Toda a formação académica de Manuel Alves foi feita em Portugal, e sempre no ensino público. E até é capaz de elogiar a atual política de financiamento de investigação: «Tem-se verificado uma execução mais eficiente dos projetos em curso, com um maior controlo sobre a sua execução material e financeira.» Porém, não nega que a drástica redução na atribuição de bolsas que ocorreu este ano «foi exagerada» e, pela primeira vez na sua vida, pondera, aos 41 anos, sair do país. Com as reduções salariais sucessivas e a constante burocracia, «começa a ser difícil não equacionar seriamente uma mudança para uma instituição estrangeira».
Fotografia de Adelino Meireles/Global Imagens
Goreti Sales
Lidera uma unidade de investigação no Instituto Superior de Engenharia do Porto
«Poupar foi (e é) a palavra de ordem»
A starting grant do Conselho Europeu de Investigação representou para Goreti Sales «o renascimento para a ciência de ponta». Um financiamento de um milhão de euros, a cinco anos, que lhe permitiu fortalecer a unidade de investigação que coordena no Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) desde 2011. Para a cientista, a escassez não é uma novidade, e é ela a primeira a reconhecer que sempre tentou fazer ciência «com pouco dinheiro»: «Poupar foi (e é) a palavra de ordem.» Respeitando este pressuposto, criou, com os seus alunos de doutoramento o BioMark, Sensor Research, tendo em vista o desenvolvimento de materiais e de biossensores. O projeto, que lhe valeu o reconhecimento internacional, pretende dar aos pacientes completa autonomia em relação aos biossensores elétricos. Em termos ideias, um diabético, por exemplo, deixaria de ter de recorrer ao comum medidor de glicose para ter a exata noção dos seus níveis de açúcar no organismo. Neste momento, o conceito está a ser aplicado na monitorização de biomarcadores do cancro, tendo como objetivo substituir sistemas atuais de rastreio (como por exemplo a pesquisa da sangue oculto nas fezes) ou criar novos sistemas ainda inexistentes. A unidade de investigação arrancou com o suporte do ISEP, mas houve a necessidade de procurar outros meios e programas de financiamento para a manutenção das atividades. Foi desta forma, «independente, autónoma e desprendida», que Maria Goreti Sales se candidatou ao prémio europeu.
Frequentou o ensino secundário público, na Escola Secundária da Maia, ao qual se seguiu a licenciatura na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Já bolseira da Fundação para a Ciência e Tecnologia, começou a dar passos sustentados como investigadora. O gosto pela ciência não lhe veio no ADN, foi uma profissão pela qual se apaixonou por experimentação. «Depois de “investigar” pela primeira vez, não tive dúvidas de que este era o meio onde me sentia feliz e que potenciava as minhas capacidades», explica. Aos 43 anos, conta com mais de oitenta artigos científicos publicados em revistas independente e cerca de 400 citações.
Leciona desde 1999. Alcançou alguma estabilidade no ensino e, apesar dos cortes salariais, sabe que trabalha numa área penalizada em tempos de crise, cujo «benefício social ou financeiro pode não ser visível, nem sequer vislumbrar-se no horizonte». Por isso, entende que «existam menos bolsas e que estas sejam atribuídas aos melhores», quando a ausência de soluções de progressão na carreira faz que os apoios à investigação funcionem para os cientistas como «meros substitutos» de contratos de trabalho.
Fotografia de Leonardo Negrão/Global Imagens
Marta Moita
Investigadora da Fundação Champalimaud, estuda a raiz do medo
«Receber financiamento é uma lotaria»
Considera-se uma «medrosa assim-assim» e elegeu o medo – mais concretamente os mecanismos neurais que estão na base deste comportamento – como área de estudo. A aposta representou, aos 40 anos, uma starting grant no valor de 1,5 milhões de euros, atribuída pelo Conselho Europeu de Investigação, e a tranquilidade de um projeto a cinco anos com financiamento garantido. «Estamo-nos a focar num aspeto particular do medo», explica a investigadora. «Queremos perceber como é que usamos o comportamento do outro para detetar uma ameaça.»
A liderar uma equipa de oito pessoas, Marta Moita estudará quais são os princípios que governam a regulação de um comportamento de defesa mediante o seu contexto social e, como cobaias, vai utilizar ratos e moscas. Os exemplos frequentes a que recorre ao longo do discurso auxiliam-na a clarificar o objeto de investigação: «Se estamos num sítio e várias pessoas começam a fugir, interpretamos isso como a presença de uma ameaça; se há um silêncio súbito do nosso interlocutor, também nos calamos.» Imobilização, fuga, silêncio são alguns dos comportamentos induzidos que o cérebro identifica como sinais de perigo. Compreender que mecanismos neurais entram em jogo nestes processos são os próximos passos.
Depois de terminar o doutoramento em Biologia Humana na Universidade de Nova Iorque, regressou a Portugal para se especializar em Neurociências. Integrou a primeira leva de cientistas da Fundação Champalimaud, onde trabalha desde 2008. O projeto, que lhe valeu o reconhecimento internacional, começou a ser desenvolvido um ano mais tarde, com o apoio interno da instituição. «Se não estivesse na Fundação Champalimaud, que tem dinheiro, não teria como financiar o trabalho que foi a base da minha candidatura ao Fundo Europeu de Investigação e não teria recebido financiamento internacional», garante com o semblante grave.
Marta não esconde «a história traumática» que tem com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, feita de episódios que, tal como acontece com a aprendizagem do medo, a fazem reagir por precaução. Afinal, o projeto que recolheu créditos internacionalmente foi chumbado dentro de portas e ficou sem apoio público. «O que é que isto quer dizer?», questiona investigadora, antes de avançar com uma hipótese. Quando há recursos limitados e a percentagem de candidaturas a bolsas de investigação aprovadas baixa para os dez por centro, «receber um financiamento FCT passa a ser uma lotaria e a depender do estado de espírito do avaliador». A sorte e o azar a definirem o futuro dos cientistas em Portugal?