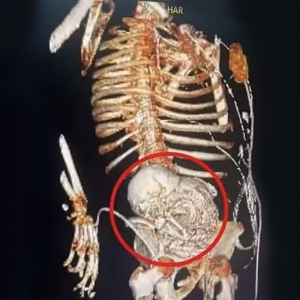Devíamos estar em 2006. Ou 2007. Sei que era junho, porque os dias eram longos e havia apenas três ou quatro horas de noite. Foi numa dessas noites feita dia, quando bebíamos uma cerveja no Hotel Torni, no cimo da torre com o mesmo nome, com vista para o Báltico, que o Nuno me disse daquilo.
Estávamos em Helsínquia, em trabalho, e ele tinha acabado de telefonar para casa. A mulher, em Viena, a 1700 quilómetros dali, tinha encostado o aparelho à boca da filha e ele contava, meio deliciado, que estava um tipo diferente desde que tinha sido pai. Mais controlado com os horários, menos afoito a aventuras. Nada de novo para quem experimenta a paternidade, mas aquilo vindo de um tipo que eu sabia que gostava de fazer vela, surfava sempre que podia – às vezes sozinho –, já tinha experimentado uma série de atividades radicais e passava boa parte do ano a viajar em trabalho, a fotografar para revistas de viagens ou em campanhas de publicidade… aquilo pareceu‑me estranho. Mas, antes de pedir a segunda cerveja e com isso fecharmos o dia, o meu companheiro de viagem disse‑me isto: «Desde que sou pai, nunca mais viajei, fosse para onde fosse, sem avisar os meus pais. E despeço‑me da minha filha. Sei lá o que pode acontecer.»
Lembrei‑me disso há dias, a propósito dos atentados de Paris. Depois das horas de choque daquela noite de sexta‑feira 13, e passado o primeiro novelo de informações que se ia desenrolando em níveis cada vez maiores de horror, começaram a chegar as histórias. Os nomes. Os relatos de quem tinha escapado, de quem tinha fintado a morte por uma nesga, de quem tinha sobrevivido ao banho de sangue que nunca se conseguirá lavar. E também as outras: as de quem tinha engrossado o número de baixas, até chegar aos terríveis três dígitos: 129. Cento e vinte e nove famílias desfeitas (e o número, escrito à terça‑feira, pode aumentar entretanto). Quantas destas pessoas se terão despedido, quando saíram de casa, naquela noite, dos filhos ou dos pais, das mulheres ou dos maridos, dos amigos? Terão dado um beijo de «até amanhã»? Ou deixado um post‑it a dizer «não esperes por mim»? Terão sussurrado ao ouvido de alguém «Até já, não demoro»?
A velha conversa de viver cada dia como se fosse o último, ou de agarrar o que a vida dá, ou de abraçar quem amamos, perdoar o que não importa e não adiar almoços com amigos ou não deixar de fazer aquele telefonema importante para dizer, de viva voz, o quanto gostamos ou queremos aquela pessoa… essa conversa vale o que vale no dia-a-dia. É impraticável. Não fazíamos mais nada. Somos atropelados pelos minutos que se devoram, pelos prazos, pelos e‑mails que têm de ser respondidos naquele momento e não mais tarde, pelas reuniões inadiáveis, por tudo o que atrasa o tal abraço a quem merece. Até ao dia em que uma coisa destas acontece. E alguém nos telefona a dizer que aquele amigo, o tal, estava a ver um concerto numa sala de espetáculos em Paris… E lá voltamos a colocar as prioridades pela ordem que queríamos. Certa ou não.
O meu amigo Nelson estava na capital francesa naquela noite. E, fechado num restaurante, enquanto esperava por mais informações, lembrou‑se de que não tinha avisado os pais. Ele também conhece o Nuno. O tal que, em 2006, ou 2007, tinha uma filha e a ouviu ao telefone a partir de Helsínquia. Hoje tem três. Não falamos há uns tempos. Se calhar devia telefonar‑lhe um dia destes. Só para saber se está tudo bem. E mandar um abraço.
[Publicado originalmente na edição de 22 de novembro de 2015]