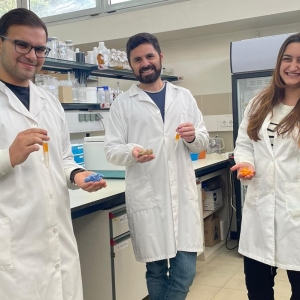Nesta semana, soube-se que o jornal francês Le Monde fez um notável trabalho: numa só noite eleitoral, publicou 36 mil textos. É certo que a esmagadora maioria foi de pequenos textos, cada um reduzido ao nome duma das comunas que votou (mais de 30 mil), os nomes dos candidatos, os votos e as percentagens – mas 36 mil textos?! Explicação: quem trabalhou foi um robô-jornalista, municiado de software que lhe permitia disparar para o público logo que o Ministério do Interior francês lhe fornecia os resultados. Ainda coisa muito automática e seca, mas, é oficial, já há robôs-jornalistas.
A coisa apanhou-me com o mais inadequado dos livros na mão. Nesta semana eu cumpria uma das minhas obrigações a que me imponho: voltar a um livro de Nelson Rodrigues. O brasileiro tem peças de teatro, mas a penitência é exclusiva para as suas crónicas – «A cabra vadia», «O reacionário», «À sombra das chuteiras imortais»… Agora eu relia O Óbvio Ululante. Quando se é cronista profissional dói ler Nelson Rodrigues (1912-1980). É como revolver um cilício na carne em cada página que se vira. Fico a compreender Santa Teresa de Ávila, que se mortificava e extasiava ao mesmo tempo. O maior cronista da língua portuguesa faz-me esse efeito. Partilhar, numa mesma semana, o nascimento do árido robô-jornalista com o pessoalíssimo Nelson Rodrigues foi uma experiência.
Nelson Rodrigues entrou para um jornal ainda garoto. O pai, Mário Rodrigues, era o patrão, um irmão, Mário Filho, tratava do desporto (o nome oficial do Maracanã é Estádio Mário Filho), Roberto, outro irmão e artista, ilustrava as peças, e Nelson fazia a tarimba de repórter policial. Num dia de 1929, sem assunto, o jornal publicou uma manchete sobre um divórcio de famosos. A senhora invocada foi à redação, pediu para falar com o diretor, que não estava, e, em substituição, o jovem Roberto levou um tiro e morreu. Nelson viveu a obra completa de Dostoiévski. Quando já era o mais popular cronista brasileiro, nas décadas de 50 e 60, ele fala dos dramas humanos com um talento que lhe permite driblar o dramalhão.
Não gosta dos jornais que ignoram o crime ou a morte do pobre. Ele jura que o atropelado, morto junto ao passeio, fica guardado por um círio (há sempre uma piedosa mulher que acende uma vela) – não contar esse drama nas páginas dos jornais é fazer a figura fria do vento que tenta apagar a vela… Ele conversa com o leitor e assim o agarra. Ele diz que, na hora da morte, o escritor João Guimarães Rosa telefona a uma amiga e diz: «Socorro. Socorro.» Dito isso, logo na frase seguinte, Nelson chama a atenção para o pormenor: «Mas era um apelo sem ponto de exclamação.» O leitor faz o que eu fiz. Voltei os olhos para a frase anterior. Não, não tinha pontos de exclamação. Fiquei enternecido pelo cuidado do cronista. Se Picasso me dissesse: «Repara no verde do chapéu do Arlequim, é igual ao do cadeirão», eu não ficaria mais comovido.
Numa crónica de 1968, Nelson fala de Aída Cury. Ele escrevia da mania da glorificação do jovem, o jovem que é bom porque é jovem, e interroga: «E se for um pulha? Sim, se for um desses que atiram Aída Cury pela janela?» Ele falava dum episódio trágico do Rio de Janeiro, de dez anos antes. Uma moça de 18 anos, órfã e estudante, foi arrastada para um prédio, na avenida que orla Copacabana, violentada e morta por três jovens. Eu lembro-me do caso. Em minha casa, em Luanda, liam-se as revistas brasileiras Cruzeiro e Manchete – e, sim, também nos meus cinemas tinham passado os filmes de James Dean, o suficiente para os nossos pais pensarem que usar jeans levava à juventude transviada. Eu sei que Nelson Rodrigues se enganou: foi dum terraço que Aída se atirou. Mas, mais uma vez, dei-me conta do robô que ele nunca foi. As suas personagens são gente. E a história das cidades é feita disso, gente.
[Publicado originalmente na edição de 29 de março de 2015]